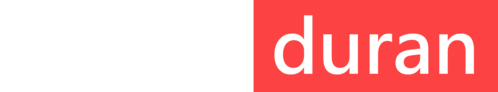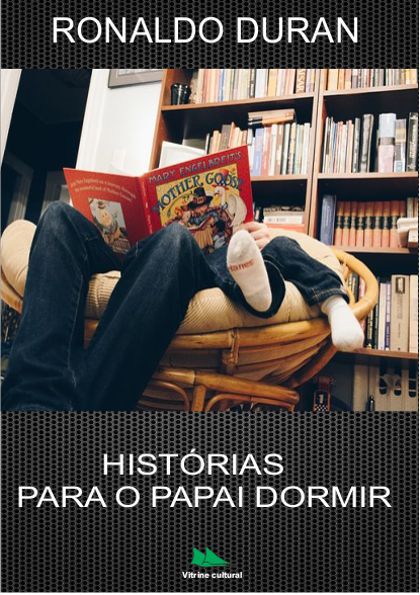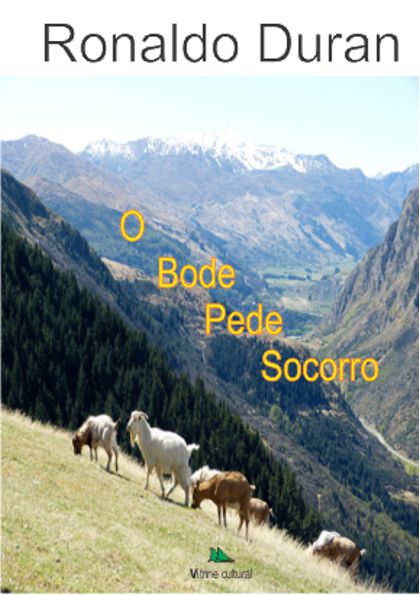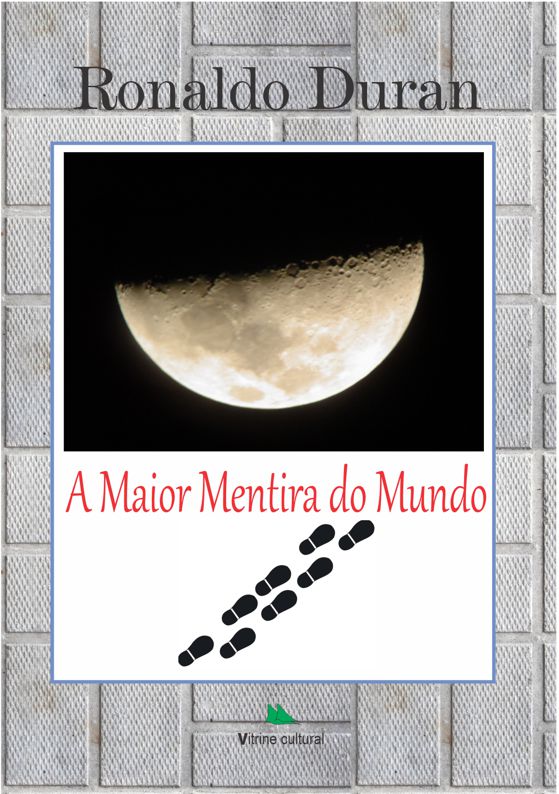
A maior Mentira do Mundo
Para você qual seria a maior mentira do mundo? Cada pessoa elegeria uma, se pudesse. Mas essa senhora do subúrbio carioca, modesta e sem mais instrução defendia uma que, acredite, coincide com a de um professor doutor. Além desta história polêmica, o autor traz mais 150 de muita imaginação.
Compre Agora
Contos
PEGOU A GARRAFA de vinho branco e pôs o copo pela metade. Os parentes iam chegando. Estranhos no recinto só da parte da família do namorado da filha, compreendendo pai, mãe e o genro. O anfitrião os cumprimentou, indicando em seguida as poltronas e o sofá na sala de estar. O sofá estava com três nádegas, cujos donos levantaram-se para saudar quem chegava e logo retornaram ao conforto do assento.
Diante dos assentos, há uma mesinha de madeira rara. Sobre ela o vaso de flores começa perder espaço diante dos copos de cerveja e travessas dos antepastos, sem contar com chaves de carros e carteiras. Como esposo anfitrião, ele ajudou a mulher a guarnecer nova bandeja com quitutes e trazer à sala para substituir a que se esvaziara. As latinhas de cerveja eram requisitadas, sim, mas moderadamente. Havia os abstêmios, para quem os refrigerantes e águas geladas surtiam prazer idêntico ao álcool.
Quem adentrasse na cozinha veria a grande travessa de alumínio, guarnecida com o pernil bem-temperado, saboroso, requintado. Iguaria tradicional à mesa desta família na última noite do ano. A carne de panela com mandioquinha, a sogra traria; junto com a maionese da cunhada; e mais a rabugice do sogro septuagenário. Nesse ano, seriam duas famílias convidadas a passar o réveillon.
Às 22 horas, boa parte das pessoas ia para a oração. No sofá, restavam os três chefes de famílias, céticos, ou acomodados. Ficaram no sofá proseando. A TV estava ligada, e o som baixinho a fim de não perturbar a oração comunitária que se dava num dos cômodos da casa. Estando a TV silenciada, os homens proseavam sobre futilidades, mais por cortesia que por interesse no assunto. O anfitrião vez por outra se erguia. Circulava na cozinha, no quintal ou reabastecia o copo de vinho branco. Bebericava sem a necessidade de se pôr alcoolizado.
Minutos após o fim da oração, à mesa bem-arranjada, ouvia-se o tilintar dos talheres, as bocas movimentando, os dentes triturando. Tudo mostra que a ceia agradava. A voracidade vinha dos que se seguraram por muito tempo sem atacar uma coxinha de frango. A TV exibia o programa musical que precede a virada e trazia uma imagem de pessoas gritando, pulando, se beijando, quase em transe diante dos músicos que se apresentavam no palco. Imagem tão diferente da que a sala de jantar exibia com as três famílias à mesa degustando o que lhe chegavam à boca.
O anfitrião, na posição que estava, podia dar-se ao luxo de fixar o olhar em qualquer dos convivas ou no que a TV mostrava. O espaço no canto da parede era o preferido. E antes que as pessoas se alojassem, ele o rodeava. Bastava a primeira se sentar, para ele tomar o assento.
A mousse de chocolate, a de morango, a de caju e o manjar de coco fechava com chave de ouro a magnífica ceia. As uvas verdes dão o requinte digestivo.
De volta à frente da TV, alojados no sofá e nas cadeiras, boa parte da família esperava a virada. Os assuntos voltavam a fluir. Nem dá para repetir. A gama é muito ampla. De novidades sobre vizinhos, filhos na profissão, netos na faculdade, e até as nocivas implicações do recente pacote econômico. Violência é assunto nos últimos tempos bem em voga nas rodas familiares, ali não faltariam casos e casos.
A alegria que as pessoas da TV apresentavam o perturbava. Caras animadas, suadas, agitadas, uma empolgação. Contraste nítido com as pessoas desse lado de cá da TV. Paradas, ou conversando, mas nunca sem deixar a confortável poltrona. O programa era gravado, visto que desde ontem a TV volta e meia o anunciava. Provavelmente boa parte daquela multidão e dos próprios artistas estava em casa em situações semelhantes.
Do que se queixava? Da beleza, animação e zoeira que a juventude exibe? Ou da sua rotina de fim de ano que julgava limitada? Do fato de que assim que estourasse o champanha, cessaria a festa familiar e cada qual para a casa, para a cama? Nem ele saberia responder.
Diante dos assentos, há uma mesinha de madeira rara. Sobre ela o vaso de flores começa perder espaço diante dos copos de cerveja e travessas dos antepastos, sem contar com chaves de carros e carteiras. Como esposo anfitrião, ele ajudou a mulher a guarnecer nova bandeja com quitutes e trazer à sala para substituir a que se esvaziara. As latinhas de cerveja eram requisitadas, sim, mas moderadamente. Havia os abstêmios, para quem os refrigerantes e águas geladas surtiam prazer idêntico ao álcool.
Quem adentrasse na cozinha veria a grande travessa de alumínio, guarnecida com o pernil bem-temperado, saboroso, requintado. Iguaria tradicional à mesa desta família na última noite do ano. A carne de panela com mandioquinha, a sogra traria; junto com a maionese da cunhada; e mais a rabugice do sogro septuagenário. Nesse ano, seriam duas famílias convidadas a passar o réveillon.
Às 22 horas, boa parte das pessoas ia para a oração. No sofá, restavam os três chefes de famílias, céticos, ou acomodados. Ficaram no sofá proseando. A TV estava ligada, e o som baixinho a fim de não perturbar a oração comunitária que se dava num dos cômodos da casa. Estando a TV silenciada, os homens proseavam sobre futilidades, mais por cortesia que por interesse no assunto. O anfitrião vez por outra se erguia. Circulava na cozinha, no quintal ou reabastecia o copo de vinho branco. Bebericava sem a necessidade de se pôr alcoolizado.
Minutos após o fim da oração, à mesa bem-arranjada, ouvia-se o tilintar dos talheres, as bocas movimentando, os dentes triturando. Tudo mostra que a ceia agradava. A voracidade vinha dos que se seguraram por muito tempo sem atacar uma coxinha de frango. A TV exibia o programa musical que precede a virada e trazia uma imagem de pessoas gritando, pulando, se beijando, quase em transe diante dos músicos que se apresentavam no palco. Imagem tão diferente da que a sala de jantar exibia com as três famílias à mesa degustando o que lhe chegavam à boca.
O anfitrião, na posição que estava, podia dar-se ao luxo de fixar o olhar em qualquer dos convivas ou no que a TV mostrava. O espaço no canto da parede era o preferido. E antes que as pessoas se alojassem, ele o rodeava. Bastava a primeira se sentar, para ele tomar o assento.
A mousse de chocolate, a de morango, a de caju e o manjar de coco fechava com chave de ouro a magnífica ceia. As uvas verdes dão o requinte digestivo.
De volta à frente da TV, alojados no sofá e nas cadeiras, boa parte da família esperava a virada. Os assuntos voltavam a fluir. Nem dá para repetir. A gama é muito ampla. De novidades sobre vizinhos, filhos na profissão, netos na faculdade, e até as nocivas implicações do recente pacote econômico. Violência é assunto nos últimos tempos bem em voga nas rodas familiares, ali não faltariam casos e casos.
A alegria que as pessoas da TV apresentavam o perturbava. Caras animadas, suadas, agitadas, uma empolgação. Contraste nítido com as pessoas desse lado de cá da TV. Paradas, ou conversando, mas nunca sem deixar a confortável poltrona. O programa era gravado, visto que desde ontem a TV volta e meia o anunciava. Provavelmente boa parte daquela multidão e dos próprios artistas estava em casa em situações semelhantes.
Do que se queixava? Da beleza, animação e zoeira que a juventude exibe? Ou da sua rotina de fim de ano que julgava limitada? Do fato de que assim que estourasse o champanha, cessaria a festa familiar e cada qual para a casa, para a cama? Nem ele saberia responder.
A MOÇA, 17 ANOS, varria a frente do estabelecimento comercial. Por volta das sete horas estavam todos no posto. O Magrão ia arrumando as peças de mussarelas. Como se tratava de açougue, logo retornou para a banqueta e continuaria cortando peitos de filé de frango. A moça retornou com a vassoura. E quase mecanicamente apanhou os trocados para o pão e seguiu para a padaria, que demandava uma boa caminhada.
Os oito pães que a moça compra servirão para o café da manhã dos quatro açougueiros, entre eles o Boa Praça, apelido do proprietário do açougue. Sem descartar a adolescente. O hábito se firmou. Afinal, dois deles levantavam muito cedo, por morar longe. E sequer dava para bebericar um café antes de correr para o ponto de ônibus. Além do mais: tomar café em equipe reforçava os laços de companheirismo.
Sexta-feira. O forte movimento começaria por volta das dez horas. Amoleceria em torno das duas horas. A venda da carne era a etapa final. Contudo, consumia-se considerável tempo em preparar as peças, as fatias. A grande demanda de carne acontece no sábado, onde os churrasqueiros de plantão disputam com as donas de casa cada quilo.
Além das contas, e impostos, e concorrência, o pequeno comerciante enfrenta o incômodo dos malandros de todo o tipo que rondam os estabelecimentos. Destaque para os menores. Espécie de assalto relâmpago. Em geral, aparecem em dupla e de bicicleta. Chegam ao caixa e anunciam o assalto. Boa Praça várias vezes teve esses incômodos hospedeiros zanzando no açougue. Mas que fazer! O importante é não reagir. Poucas vezes ele conseguiu que a polícia interceptasse os malandros quarteirões à frente.
A opinião dele é que dinheiro a gente consegue outro. A vida é preciosa. Com acentuado senso de responsabilidade pelos funcionários, jamais poria vidas em risco. Proseava com os malandros ou os tratava com indiferença. Nunca reagia e deixava-os esvaziar o caixa.
Hoje seria diferente. Porque há o dia em que a rotina sofre do mesmo mal que o relógio sem bateria: para. Quando se percebe está-se fazendo algo completamente em desacordo.
Desta vez foram dois homens. Adentraram. Boa Praça estava lá dentro, envolvido com os espetinhos de carne e frango. No balcão, o Magrão. No caixa, a menina. Calmaria de costas para o balcão, cortando peças de alcatra. Nem nove horas eram.
Provavelmente o rapaz que segurava a arma em punho estava drogado. Ou a cara amassada refletia noites sem dormir regadas a cervejas? Assaltante raramente é gentil. Este, porém, estava passando dos limites na grosseria. Por isso tornou o ambiente mais tenso do que era esperado. A tensão em breve viraria desespero.
Antes de desespero, a tensão produziu grave altercação entre o Magrão e o doidão com a pistola na mão. Num momento de desvario, Boa Praça apanhou a enorme faca. Deu a volta pelos fundos e apareceu pela frente do açougue. “Oh, rapaz. Vá se embora...”. Não pôde concluir a frase. O rapaz atirou nele. O açougueiro rapidamente enfiou a grande faca na barriga do atirador, antes da tontura produzida pela bala o derrubar.
O cúmplice fugiu. Clientes que perceberam o assalto haviam chamado a polícia, que chegou logo depois que a tragédia estava feita.
O resgate foi chamado. Caído no chão do açougue, Boa Praça jazia sem vida. O tiro atingiu o coração. O malandro conseguira ser internado no Pronto-Socorro. Mas não resistiu ao profundo corte na barriga.
Os comerciantes e familiares da vizinhança foram às ruas pedir justiça. Aonde já se viu bandido fazer o que queria e o poder público nem aí? Temiam pelos negócios e segurança da família, além de solidários ao velho amigo Boa Praça.
No telejornal, a polícia reforçou a ideia que não se deve reagir a bandidos.
Os oito pães que a moça compra servirão para o café da manhã dos quatro açougueiros, entre eles o Boa Praça, apelido do proprietário do açougue. Sem descartar a adolescente. O hábito se firmou. Afinal, dois deles levantavam muito cedo, por morar longe. E sequer dava para bebericar um café antes de correr para o ponto de ônibus. Além do mais: tomar café em equipe reforçava os laços de companheirismo.
Sexta-feira. O forte movimento começaria por volta das dez horas. Amoleceria em torno das duas horas. A venda da carne era a etapa final. Contudo, consumia-se considerável tempo em preparar as peças, as fatias. A grande demanda de carne acontece no sábado, onde os churrasqueiros de plantão disputam com as donas de casa cada quilo.
Além das contas, e impostos, e concorrência, o pequeno comerciante enfrenta o incômodo dos malandros de todo o tipo que rondam os estabelecimentos. Destaque para os menores. Espécie de assalto relâmpago. Em geral, aparecem em dupla e de bicicleta. Chegam ao caixa e anunciam o assalto. Boa Praça várias vezes teve esses incômodos hospedeiros zanzando no açougue. Mas que fazer! O importante é não reagir. Poucas vezes ele conseguiu que a polícia interceptasse os malandros quarteirões à frente.
A opinião dele é que dinheiro a gente consegue outro. A vida é preciosa. Com acentuado senso de responsabilidade pelos funcionários, jamais poria vidas em risco. Proseava com os malandros ou os tratava com indiferença. Nunca reagia e deixava-os esvaziar o caixa.
Hoje seria diferente. Porque há o dia em que a rotina sofre do mesmo mal que o relógio sem bateria: para. Quando se percebe está-se fazendo algo completamente em desacordo.
Desta vez foram dois homens. Adentraram. Boa Praça estava lá dentro, envolvido com os espetinhos de carne e frango. No balcão, o Magrão. No caixa, a menina. Calmaria de costas para o balcão, cortando peças de alcatra. Nem nove horas eram.
Provavelmente o rapaz que segurava a arma em punho estava drogado. Ou a cara amassada refletia noites sem dormir regadas a cervejas? Assaltante raramente é gentil. Este, porém, estava passando dos limites na grosseria. Por isso tornou o ambiente mais tenso do que era esperado. A tensão em breve viraria desespero.
Antes de desespero, a tensão produziu grave altercação entre o Magrão e o doidão com a pistola na mão. Num momento de desvario, Boa Praça apanhou a enorme faca. Deu a volta pelos fundos e apareceu pela frente do açougue. “Oh, rapaz. Vá se embora...”. Não pôde concluir a frase. O rapaz atirou nele. O açougueiro rapidamente enfiou a grande faca na barriga do atirador, antes da tontura produzida pela bala o derrubar.
O cúmplice fugiu. Clientes que perceberam o assalto haviam chamado a polícia, que chegou logo depois que a tragédia estava feita.
O resgate foi chamado. Caído no chão do açougue, Boa Praça jazia sem vida. O tiro atingiu o coração. O malandro conseguira ser internado no Pronto-Socorro. Mas não resistiu ao profundo corte na barriga.
Os comerciantes e familiares da vizinhança foram às ruas pedir justiça. Aonde já se viu bandido fazer o que queria e o poder público nem aí? Temiam pelos negócios e segurança da família, além de solidários ao velho amigo Boa Praça.
No telejornal, a polícia reforçou a ideia que não se deve reagir a bandidos.
“UMA GRANDE BESTEIRA, menino. Logo você que vive enfiado nos livros acreditar que o homem foi na lua”, disse dona Maria. Ele estava na adolescência. Vencido o incipiente argumento diante da certeira confiança de Dona Maria, o garoto pacato silenciava. “Se eu não tivesse estudado talvez desacreditasse também”, dizia para si. Apoiava-se precocemente na arrogância que alguns intelectuais têm ao classificarem um indivíduo de ingênuo.
À medida que ia passando os anos escolares notava que a polêmica estava longe do fim. A solução viria se a educação fosse regra, se inexistissem analfabetos ou pessoas sem concluir a educação básica. O argumento religioso era o mais difícil de opor-se. “Imagina. O homem quer ser mais que Deus!”. Para ele a lógica é simples: quem estuda sabe que o homem pisou na lua.
A faculdade é palco de transformações. Chega-se esperançoso em descobrir conhecimentos trancados a sete chaves. Há esperança de dominar as mais refinadas técnicas e ter acesso ao último grau de evolução. Nas primeiras aulas, contudo, descobre-se que não é tonelada de conhecimentos novos que se busca alcançar, mas uma revisão e aprofundamento do que já se sabe. A não ser o conhecimento muito específico, como criar um robô, na universidade se desenvolve habilidade para fazer releitura crítica acerca do mundo real.
O curso superior escolhido tinha filosofia como disciplina básica. Sendo economia uma matéria que transita entre a matemática e a filosofia, naturalmente haverá pessoas mais práticas, matemáticas e as mais reflexivas, filosóficas. Em nenhum momento se espera que uma pessoa seja somente matemática ou somente filosófica. Todos têm o mínimo de ambas as partes, contudo, uma parte é acentuada.
O jovem deliciava-se com conceitos, jargões, chavões, trejeitos dos mestres e a certeza que cada um tinha que sua área era mais importante, ainda que politicamente defendessem a utilitária interdisciplinaridade. As aulas eram palcos. Os atores dividiam-se entre alunos e mestres. Ambos protagonistas. Os alunos com frases desconcertantes tinham habilidade para tornar o diálogo empolgante.
“O Senhor diz que o homem não chegou à lua?”, questiona um aluno ao professor doutor em economia política, mas lecionando filosofia.
“Não afirmo. Meramente estamos no terreno da suposição”, brincou o mestre.
“Não seria um retrocesso? Parece que imita os sem-estudos? Só falta afirmar que só a Deus cabe o prodígio”, um aluno argumenta.
“Meu caro, longe de entrar no mérito religioso”, sorriu o mestre, “minha prática é mais terrena. Todavia, voltando ao objeto de nossa discussão, vamos supor que o homem tenha ido à Lua. Por que não voltou sabendo a Lua rica em minérios? Seria sensato supor que o Tio Sam jogasse bilhões de dólares no espaço a troco de nada?
“Vai ver quisesse estar à frente dos outros países. Ir à Lua serviu para vencer a corrida espacial e impor-se mais ainda como potência mundial”, gritou outro aluno.
“Ótimo. É por aí”, incentivou o mestre. “O interesse americano em chegar ou fingir que chegou a Lua está claro: dominar tecnologia que meteria medo nas demais superpotências, a ponto de temerem bases lunares que os liquidassem ou subjugassem. Se lá tivesse chegado, aproveitaria para instalar satélite e inclusive para fins de monitoramento. Passados 40 anos, o americano e outros países estão tentando levar um homem a pousar na Lua. O grande problema não é ir à lua. Acredito que dia menos dia terão condições. O desafio maior será evitar cair na descrença mundial ao confessar a maior mentira do mundo: a de não ter ido à Lua em 1969. Ainda bem que o mundo se prepara para isso ao descobrir a mentira das armas de destruição em massa que sustentou a invasão do Iraque”.
À medida que ia passando os anos escolares notava que a polêmica estava longe do fim. A solução viria se a educação fosse regra, se inexistissem analfabetos ou pessoas sem concluir a educação básica. O argumento religioso era o mais difícil de opor-se. “Imagina. O homem quer ser mais que Deus!”. Para ele a lógica é simples: quem estuda sabe que o homem pisou na lua.
A faculdade é palco de transformações. Chega-se esperançoso em descobrir conhecimentos trancados a sete chaves. Há esperança de dominar as mais refinadas técnicas e ter acesso ao último grau de evolução. Nas primeiras aulas, contudo, descobre-se que não é tonelada de conhecimentos novos que se busca alcançar, mas uma revisão e aprofundamento do que já se sabe. A não ser o conhecimento muito específico, como criar um robô, na universidade se desenvolve habilidade para fazer releitura crítica acerca do mundo real.
O curso superior escolhido tinha filosofia como disciplina básica. Sendo economia uma matéria que transita entre a matemática e a filosofia, naturalmente haverá pessoas mais práticas, matemáticas e as mais reflexivas, filosóficas. Em nenhum momento se espera que uma pessoa seja somente matemática ou somente filosófica. Todos têm o mínimo de ambas as partes, contudo, uma parte é acentuada.
O jovem deliciava-se com conceitos, jargões, chavões, trejeitos dos mestres e a certeza que cada um tinha que sua área era mais importante, ainda que politicamente defendessem a utilitária interdisciplinaridade. As aulas eram palcos. Os atores dividiam-se entre alunos e mestres. Ambos protagonistas. Os alunos com frases desconcertantes tinham habilidade para tornar o diálogo empolgante.
“O Senhor diz que o homem não chegou à lua?”, questiona um aluno ao professor doutor em economia política, mas lecionando filosofia.
“Não afirmo. Meramente estamos no terreno da suposição”, brincou o mestre.
“Não seria um retrocesso? Parece que imita os sem-estudos? Só falta afirmar que só a Deus cabe o prodígio”, um aluno argumenta.
“Meu caro, longe de entrar no mérito religioso”, sorriu o mestre, “minha prática é mais terrena. Todavia, voltando ao objeto de nossa discussão, vamos supor que o homem tenha ido à Lua. Por que não voltou sabendo a Lua rica em minérios? Seria sensato supor que o Tio Sam jogasse bilhões de dólares no espaço a troco de nada?
“Vai ver quisesse estar à frente dos outros países. Ir à Lua serviu para vencer a corrida espacial e impor-se mais ainda como potência mundial”, gritou outro aluno.
“Ótimo. É por aí”, incentivou o mestre. “O interesse americano em chegar ou fingir que chegou a Lua está claro: dominar tecnologia que meteria medo nas demais superpotências, a ponto de temerem bases lunares que os liquidassem ou subjugassem. Se lá tivesse chegado, aproveitaria para instalar satélite e inclusive para fins de monitoramento. Passados 40 anos, o americano e outros países estão tentando levar um homem a pousar na Lua. O grande problema não é ir à lua. Acredito que dia menos dia terão condições. O desafio maior será evitar cair na descrença mundial ao confessar a maior mentira do mundo: a de não ter ido à Lua em 1969. Ainda bem que o mundo se prepara para isso ao descobrir a mentira das armas de destruição em massa que sustentou a invasão do Iraque”.
O QUE VOCÊ faria se soubesse que não tem muito tempo de vida? Que a cova o espera no fim deste ano? Pergunta assim numa roda de amigos dá o que falar. Desperta desejo dos mais altruístas aos mais hedonistas. Há quem pediria perdão ao desafeto. Viajaria quilômetros para descobrir o biológico pai. O adolescente relapso arrumaria a cama sem a mãe gritar. O matador de aula assistiria até reforço de matemática.
_ “Nem a pau Juvenal. Eu sentaria à mesa do barzinho e tomaria todas. Que se danasse a aula de Estatística na segunda-feira de manhã”, opção do pinguço universitário.
Viagem pelo Brasil ou exterior. Pescar. Abandonar o emprego e curtir a casa. Escrever livro, plantar árvores, ter filhos. Desejos tendem ao infinito. São previsíveis. E devem ser prazerosos para diminuir a carga do tormento que é saber que o fim está próximo. Embora que na prática raros desejos sairiam da condição de sonhos. Na prática, a trágica situação, a tristeza e dor raramente dão margem para fantasias colhidas em mesa de bar.
Quem entra na fila do PROCON tem a paciência reduzida pela morosidade.
“Estou aqui desde as nove da manhã”, murmura um.
“E são quase uma hora da tarde”, a outra se espanta.
O espanto faz uma recém-chegada pensar duas vezes e dar meia volta. Acha melhor retornar amanhã. “Nem a pau vou ficar numa fila assim. Sair daqui lá pelas sete da noite?”.
Tem gente que não pode desistir. A urgência força a permanência. Não sem reclamar. Para boa parte, reclamar é a melhor forma de passar o tempo e reduzir ansiedade. O homem, de revista na mão, tem como escape a leitura. Quantas pessoas exprimidas ao lado dele? Quantos procurando puxar prosa? O homem se faz de surdo. Evita o grupo. Claro, se alguém faz uma pergunta direta, responde. Mas evita dar lenha para o papo.
Os monólogos cansam. Ele queria levantar-se e dar uma volta para espairecer. Mas se fizesse teria que passar sabe lá quantas horas em pé. Desistiu. “Ouvir gente lamentar sobre dívida irrita”, pensou. Talvez porque ele estivesse ali pela mesma razão: contestar a fatura do credor que jogou lá para cima o que o cliente havia tomado emprestado.
Embora ele estivesse lendo artigo interessante, o ouvido foi fisgado pelo conteúdo algo peculiar. Ainda que contra a vontade, a narração feita pela mulher sentada ao seu lado no banco o ia atraindo. A senhora passava de cinquenta anos e estava com câncer terminal. O que mais o chamou atenção nem foi o câncer, mas a sincera disposição de quitar um débito com financeira antes que falecesse.
“Eu e meu marido estávamos fazendo o máximo para resolver a pendência. Não queremos nem lesar nem deixar a conta para os filhos pagarem. Corremos atrás da financeira. E como eles nos enrolam! Na hora de emprestar nos seduzem, põe no contrato coisas que não foram faladas. A culpa em parte é nossa: na afobação nem nos damos conta de ler detalhadamente o contrato. Meu marido resgatou o seguro que eu tenho direito por causa da doença e fomos quitar a dívida. Chegando lá o valor estava além do combinado. Meu marido e eu...”.
A senhora encontrou nele a deferência requerida. O homem se rendeu à impressionante determinação da senhora, condenada por uma doença terminal, em não lesar o próximo.
De repente, o marido entra na sala. Diz que o advogado estaria esperando-a no escritório para assinar o papel. Era sinal que conseguiram convencer a financeira a aceitar o valor desejado. Ela se despede do grupo e parte.
Ele murmurou boa-sorte-pra-você em comunhão com as demais bocas. No fundo, ele gostaria de ser assim: pensar nos outros. Estava ali apenas por si. Ia comprar casa e com o nome sujo ficaria impossível o crédito na Caixa Econômica Federal.
_ “Nem a pau Juvenal. Eu sentaria à mesa do barzinho e tomaria todas. Que se danasse a aula de Estatística na segunda-feira de manhã”, opção do pinguço universitário.
Viagem pelo Brasil ou exterior. Pescar. Abandonar o emprego e curtir a casa. Escrever livro, plantar árvores, ter filhos. Desejos tendem ao infinito. São previsíveis. E devem ser prazerosos para diminuir a carga do tormento que é saber que o fim está próximo. Embora que na prática raros desejos sairiam da condição de sonhos. Na prática, a trágica situação, a tristeza e dor raramente dão margem para fantasias colhidas em mesa de bar.
Quem entra na fila do PROCON tem a paciência reduzida pela morosidade.
“Estou aqui desde as nove da manhã”, murmura um.
“E são quase uma hora da tarde”, a outra se espanta.
O espanto faz uma recém-chegada pensar duas vezes e dar meia volta. Acha melhor retornar amanhã. “Nem a pau vou ficar numa fila assim. Sair daqui lá pelas sete da noite?”.
Tem gente que não pode desistir. A urgência força a permanência. Não sem reclamar. Para boa parte, reclamar é a melhor forma de passar o tempo e reduzir ansiedade. O homem, de revista na mão, tem como escape a leitura. Quantas pessoas exprimidas ao lado dele? Quantos procurando puxar prosa? O homem se faz de surdo. Evita o grupo. Claro, se alguém faz uma pergunta direta, responde. Mas evita dar lenha para o papo.
Os monólogos cansam. Ele queria levantar-se e dar uma volta para espairecer. Mas se fizesse teria que passar sabe lá quantas horas em pé. Desistiu. “Ouvir gente lamentar sobre dívida irrita”, pensou. Talvez porque ele estivesse ali pela mesma razão: contestar a fatura do credor que jogou lá para cima o que o cliente havia tomado emprestado.
Embora ele estivesse lendo artigo interessante, o ouvido foi fisgado pelo conteúdo algo peculiar. Ainda que contra a vontade, a narração feita pela mulher sentada ao seu lado no banco o ia atraindo. A senhora passava de cinquenta anos e estava com câncer terminal. O que mais o chamou atenção nem foi o câncer, mas a sincera disposição de quitar um débito com financeira antes que falecesse.
“Eu e meu marido estávamos fazendo o máximo para resolver a pendência. Não queremos nem lesar nem deixar a conta para os filhos pagarem. Corremos atrás da financeira. E como eles nos enrolam! Na hora de emprestar nos seduzem, põe no contrato coisas que não foram faladas. A culpa em parte é nossa: na afobação nem nos damos conta de ler detalhadamente o contrato. Meu marido resgatou o seguro que eu tenho direito por causa da doença e fomos quitar a dívida. Chegando lá o valor estava além do combinado. Meu marido e eu...”.
A senhora encontrou nele a deferência requerida. O homem se rendeu à impressionante determinação da senhora, condenada por uma doença terminal, em não lesar o próximo.
De repente, o marido entra na sala. Diz que o advogado estaria esperando-a no escritório para assinar o papel. Era sinal que conseguiram convencer a financeira a aceitar o valor desejado. Ela se despede do grupo e parte.
Ele murmurou boa-sorte-pra-você em comunhão com as demais bocas. No fundo, ele gostaria de ser assim: pensar nos outros. Estava ali apenas por si. Ia comprar casa e com o nome sujo ficaria impossível o crédito na Caixa Econômica Federal.
NAS MÃOS, IA um prato de bolinhos caipiras para serem fritados na casa da cunhada. A filha mais velha ao volante. Ele ao lado da motorista. Atrás, a esposa, a filha caçula e a de 20 anos com o namorado. No rosto do chefe da casa seguia um misto de obrigação e de satisfação. Ir à casa da cunhada em Cunha era tormentoso, eis a obrigação. A satisfação vinha porque sendo pai gostava de proporcionar lazer para família, ou pelo menos não se opor.
E que lazer? Apesar de se estranhar com a cunhada, não poderia negar que era mulher determinada. “Manter o Haras dava trabalho”, ele reconhece. A cunhada não era rica o suficiente para ter uma penca de empregados e ter a chance de se ausentar. Além de fiscalizar, planejar, calcular, metia a mão na massa. Era uma guerra.
A ida para o Haras foi tranquila. Chegando à cidade de Cunha, a filha no banco detrás comenta: “A entrada da cidade foi a tia que planejou. Que legal!” O pai se ajeitou no assento, nitidamente incomodado. Elogios para cunhada doíam muito mais quando vindos dos filhos. Dor de cotovelo? Muitas vezes ele balançava a cabeça para escapar ao sentimento de raiva invejosa. Sim, a cunhada trabalha para a prefeitura. Sim, arquiteta referência na cidade. Sim, tem influência. Pior, trata-se de excelente trabalho. Digno de tirar o chapéu.
Chegaram a casa. Cumprimentos acolhedores. Ao entrar no sobrado, ele nota na sala de jantar a grande mesa de madeira ornada com toalha. Em cima, inúmeros dos mais variados doces típicos de festa junina. Notou de pronto a dedicação da sobrinha. Como é a casa? Basta folhear qualquer revista de decoração para ter uma ideia prévia. A escada de madeira na sala de tevê. A casa fica no pé de montanha, ou morro. Muitos carros morrem no meio do caminho devido à acentuada inclinação do terreno, recomenda-se subir de primeira mão.
Teve sorte. As visitas eram muitas. Não precisaria demorar o olhar na cunhada. Se estivesse em dia de verão, e não numa noite fria de começo de inverno, poderia passear no jardim e pousar o olhar no infinito lá embaixo. No lado direito de quem chega, veria as baias, com cavalos cujos donos pagam para que os animais fiquem morando no Haras. Do lado esquerdo, um convidativo lago. No centro, a vegetação inóspita. E bem mais à frente a cidade de Cunha.
Fazia companhia para filha mais nova na sala, quando foi chamado pela esposa. A janta estava servida. Dentre tantas iguarias, não guardaria nomes nem que tivesse que fazer relatório na empresa no dia seguinte. Exceção feita ao prato Afogado. E mesmo assim porque outra cunhada sua, para qual tinha mais proximidade, contou que era o prato dos escravos. “Nos dias de banquetes os escravos tinham permissão para levarem parte da carne. Como era pouca carne, vinha com bastante caldo. Acrescentavam arroz e farinha”, ela concluiu a fala tão sorridente.
A certa altura, passada a janta e apaziguado o reboliço de quem recebe visitas, a anfitriã estava na sala. Ele seguiu para onde estava a cunhada porque a sala era o lugar mais quente da casa. Estava cansado de ficar em pé, visto que à grande mesa de madeira rústica localizada na parte de fora da casa tinha os bancos todos tomados por pessoas que ainda comiam os quitutes. E de pé próximo à cobertura da área destinada para churrasqueira, ele não se sentia à vontade.
Na sala, surpreendeu a cunhada numa postura diferente da habitual. Sempre elétrica, mandando, conduzindo as pessoas como um maestro de orquestra, agora jazia quieta, com o cotovelo apoiado no descanso da poltrona e a mão sustentando o queixo. Parecia um general cansado da guerra. Ele olhou bem para ela. Há quanto tempo se conhecem? Doze anos. A idade avançada cai sobre ela. O que grita no rosto é mais o peso da grande empreitada que assumiu diante da vida do que o envelhecimento. Ser senhora de si e abrir caminhos árduos para atingir metas custa um bocado. No caso dela, levou o brilho do olhar e a vontade de sorrir.
Ele a admirou por um momento. Guardadas as proporções, eram iguais. Talvez por isso ela o incomodava tanto. A própria imagem refletida na cunhada o chateava.
E que lazer? Apesar de se estranhar com a cunhada, não poderia negar que era mulher determinada. “Manter o Haras dava trabalho”, ele reconhece. A cunhada não era rica o suficiente para ter uma penca de empregados e ter a chance de se ausentar. Além de fiscalizar, planejar, calcular, metia a mão na massa. Era uma guerra.
A ida para o Haras foi tranquila. Chegando à cidade de Cunha, a filha no banco detrás comenta: “A entrada da cidade foi a tia que planejou. Que legal!” O pai se ajeitou no assento, nitidamente incomodado. Elogios para cunhada doíam muito mais quando vindos dos filhos. Dor de cotovelo? Muitas vezes ele balançava a cabeça para escapar ao sentimento de raiva invejosa. Sim, a cunhada trabalha para a prefeitura. Sim, arquiteta referência na cidade. Sim, tem influência. Pior, trata-se de excelente trabalho. Digno de tirar o chapéu.
Chegaram a casa. Cumprimentos acolhedores. Ao entrar no sobrado, ele nota na sala de jantar a grande mesa de madeira ornada com toalha. Em cima, inúmeros dos mais variados doces típicos de festa junina. Notou de pronto a dedicação da sobrinha. Como é a casa? Basta folhear qualquer revista de decoração para ter uma ideia prévia. A escada de madeira na sala de tevê. A casa fica no pé de montanha, ou morro. Muitos carros morrem no meio do caminho devido à acentuada inclinação do terreno, recomenda-se subir de primeira mão.
Teve sorte. As visitas eram muitas. Não precisaria demorar o olhar na cunhada. Se estivesse em dia de verão, e não numa noite fria de começo de inverno, poderia passear no jardim e pousar o olhar no infinito lá embaixo. No lado direito de quem chega, veria as baias, com cavalos cujos donos pagam para que os animais fiquem morando no Haras. Do lado esquerdo, um convidativo lago. No centro, a vegetação inóspita. E bem mais à frente a cidade de Cunha.
Fazia companhia para filha mais nova na sala, quando foi chamado pela esposa. A janta estava servida. Dentre tantas iguarias, não guardaria nomes nem que tivesse que fazer relatório na empresa no dia seguinte. Exceção feita ao prato Afogado. E mesmo assim porque outra cunhada sua, para qual tinha mais proximidade, contou que era o prato dos escravos. “Nos dias de banquetes os escravos tinham permissão para levarem parte da carne. Como era pouca carne, vinha com bastante caldo. Acrescentavam arroz e farinha”, ela concluiu a fala tão sorridente.
A certa altura, passada a janta e apaziguado o reboliço de quem recebe visitas, a anfitriã estava na sala. Ele seguiu para onde estava a cunhada porque a sala era o lugar mais quente da casa. Estava cansado de ficar em pé, visto que à grande mesa de madeira rústica localizada na parte de fora da casa tinha os bancos todos tomados por pessoas que ainda comiam os quitutes. E de pé próximo à cobertura da área destinada para churrasqueira, ele não se sentia à vontade.
Na sala, surpreendeu a cunhada numa postura diferente da habitual. Sempre elétrica, mandando, conduzindo as pessoas como um maestro de orquestra, agora jazia quieta, com o cotovelo apoiado no descanso da poltrona e a mão sustentando o queixo. Parecia um general cansado da guerra. Ele olhou bem para ela. Há quanto tempo se conhecem? Doze anos. A idade avançada cai sobre ela. O que grita no rosto é mais o peso da grande empreitada que assumiu diante da vida do que o envelhecimento. Ser senhora de si e abrir caminhos árduos para atingir metas custa um bocado. No caso dela, levou o brilho do olhar e a vontade de sorrir.
Ele a admirou por um momento. Guardadas as proporções, eram iguais. Talvez por isso ela o incomodava tanto. A própria imagem refletida na cunhada o chateava.
“O QUE ELA VAI dizer? Uma coisa é comentar que penso levar uma menina de seis anos para o Brasil. Outra bem diferente é levar”, o médico matutava. Adora a noiva, não quer criar motivo para discórdia. Da última vez que se falaram muita coisa aconteceu. Quase perdeu a vida. Nas bagagens iam poucas lembranças de Ruanda. Pior, no país deixava o relógio de ouro de família, trocado por comida. Nem sabe por que o levou na viagem. Talvez como talismã.
“Tudo certo?”, o carregador aponta para as malas.
“Sim”, o gesto do médico diz que pode levar as bagagens para o jipe.
A menina esboçou ar de interrogação. O aperto na mão dela pelo médico indica que chegou a hora de viajar. Duas horas mais tarde, estavam no aeroporto. Ufa! Trajetória tão tranquila comparada ao tumulto de semanas antes. Tranquilidade perturbadora no ano de 1994.
Nas ruas, as tropas da ONU e de nações que vinham ao socorro do país sacudido por genocídio sem precedente. Mais de um milhão de mortos. Quem é culpado? Quem é inocente? Governo? Milícias? Tribos rivais? O fato é que pessoas de minorias étnicas foram mortas com facões, marretas, martelos. A atrocidade mostra que a paz entre os homens é arte nunca pronta e acabada. A cada dia deve ser cultuada e depurada, com redobrada determinação para conservar o respeito e a dignidade entre os povos. Do contrário, a carnificina dá abraço de urso faminto na frágil solidariedade humana.
“Esse é o avião?”, pergunta a menina apontando para o avião. “Sim, é o nosso avião”, o médico respondeu, enquanto seguiam os demais passageiros para a aeronave. A maior parte jornalistas estrangeiros. Alguns colegas médicos e enfermeiras. Turistas, muito poucos. A maioria se evadiu após a eclosão dos primeiros conflitos.
Por que veio para Ruanda? Nada a ver com turismo. Era sonho nutrido desde adolescente. Faria medicina e serviria na Cruz Vermelha. Em Botucatu, concluiu o curso. A especialização em cirurgia reparadora fora realizada na capital paulista. Tinha trinta anos de idade. A noiva, médica pediatra, lhe devota o tempo que sobra. Casal harmonioso. Ele tinha apartamento mobiliado e padrão de classe média. Descendia de família tradicional do interior de Goiânia.
Nunca foi pessoa à moda Hamlet. Terminada a especialização, arrumou as malas e seguiu para o aeroporto. Sabia qual país africano precisava de médico voluntário. Destino Congo. Lá chegando, bem aceito pela Cruz Vermelha, iniciou o trabalho. E de repente, o convite às pressas para Ruanda. Voou para lá.
Durante mês e meio no país, não conseguiu conformar-se com a barbárie. Ele, pouco religioso, agora não conseguia dizer uma frase inteira sem a presença da expressão “Meu Deus, por que isto?”
Quantos braços, pernas, rostos ele costurou em vinte e quatro horas? E as condições de higienização? Faria o SUS no Brasil parecer atendimento de saúde popular norueguês. Ninguém escapava da fúria. Velhos, crianças, mulheres grávidas, jovens. Todos matavam, todos morriam.
Numa das vilas ensanguentadas que desbravara com os soldados – pois seria impossível mesmo para um médico sair vivo de uma aldeia sem a ajuda dos soldados – foi onde ele encontrou uma menina magra, escondida num buraco. Toda a família dizimada. Até um bebê de três meses, esquartejado. O destino dela seria ficar com seu povo. Seria entregue a um abrigo. Mas a dor provocou uma afinidade. Médico e órfã unidos por um amor sem fronteira, uma solidariedade, uma necessidade de a própria humanidade provar que se destrói a carne também constrói a ternura.
“Tudo certo?”, o carregador aponta para as malas.
“Sim”, o gesto do médico diz que pode levar as bagagens para o jipe.
A menina esboçou ar de interrogação. O aperto na mão dela pelo médico indica que chegou a hora de viajar. Duas horas mais tarde, estavam no aeroporto. Ufa! Trajetória tão tranquila comparada ao tumulto de semanas antes. Tranquilidade perturbadora no ano de 1994.
Nas ruas, as tropas da ONU e de nações que vinham ao socorro do país sacudido por genocídio sem precedente. Mais de um milhão de mortos. Quem é culpado? Quem é inocente? Governo? Milícias? Tribos rivais? O fato é que pessoas de minorias étnicas foram mortas com facões, marretas, martelos. A atrocidade mostra que a paz entre os homens é arte nunca pronta e acabada. A cada dia deve ser cultuada e depurada, com redobrada determinação para conservar o respeito e a dignidade entre os povos. Do contrário, a carnificina dá abraço de urso faminto na frágil solidariedade humana.
“Esse é o avião?”, pergunta a menina apontando para o avião. “Sim, é o nosso avião”, o médico respondeu, enquanto seguiam os demais passageiros para a aeronave. A maior parte jornalistas estrangeiros. Alguns colegas médicos e enfermeiras. Turistas, muito poucos. A maioria se evadiu após a eclosão dos primeiros conflitos.
Por que veio para Ruanda? Nada a ver com turismo. Era sonho nutrido desde adolescente. Faria medicina e serviria na Cruz Vermelha. Em Botucatu, concluiu o curso. A especialização em cirurgia reparadora fora realizada na capital paulista. Tinha trinta anos de idade. A noiva, médica pediatra, lhe devota o tempo que sobra. Casal harmonioso. Ele tinha apartamento mobiliado e padrão de classe média. Descendia de família tradicional do interior de Goiânia.
Nunca foi pessoa à moda Hamlet. Terminada a especialização, arrumou as malas e seguiu para o aeroporto. Sabia qual país africano precisava de médico voluntário. Destino Congo. Lá chegando, bem aceito pela Cruz Vermelha, iniciou o trabalho. E de repente, o convite às pressas para Ruanda. Voou para lá.
Durante mês e meio no país, não conseguiu conformar-se com a barbárie. Ele, pouco religioso, agora não conseguia dizer uma frase inteira sem a presença da expressão “Meu Deus, por que isto?”
Quantos braços, pernas, rostos ele costurou em vinte e quatro horas? E as condições de higienização? Faria o SUS no Brasil parecer atendimento de saúde popular norueguês. Ninguém escapava da fúria. Velhos, crianças, mulheres grávidas, jovens. Todos matavam, todos morriam.
Numa das vilas ensanguentadas que desbravara com os soldados – pois seria impossível mesmo para um médico sair vivo de uma aldeia sem a ajuda dos soldados – foi onde ele encontrou uma menina magra, escondida num buraco. Toda a família dizimada. Até um bebê de três meses, esquartejado. O destino dela seria ficar com seu povo. Seria entregue a um abrigo. Mas a dor provocou uma afinidade. Médico e órfã unidos por um amor sem fronteira, uma solidariedade, uma necessidade de a própria humanidade provar que se destrói a carne também constrói a ternura.
NAS FACES, O vermelhão da emoção. Logo de manhã, assim que chegou ao trabalho, recebeu a notícia da promoção. “E agora, o que faço?”. A promoção vinha acompanhada de mudanças radicais. Primeiro, sairia da capital paulista. Fora designada como assistente de direção para filial de Santos. Subir e descer a Serra todos os dias seria massacrante. Ligou para o marido para passar a notícia e sorver conselhos.
O marido se alegrou porque sabia que era o sonho dela esse upgrade na carreira. Perderia no quesito companhia, mas ganharia com a alegria dela. Trabalhando em São Paulo, com clientes estabelecidos, ele não poderia acompanhá-la nesse momento. Conhecendo-se, sabia que deveria moderar as palavras para não chateá-la. Ficar sem mulher a semana toda seria doloroso. Principalmente no caso dele em que a esposa o completava.
Duas semanas depois, a bacharel estava no novo posto. Absorvia os detalhes da nova posição. Apesar de assistente, o cargo é de confiança e por tanto tem relativo poder e prestígio dentro da Agencia Nacional de Transportes. A chefia, por excelência é lugar tenso, dela dependendo ajustar recursos materiais e pessoais às metas consideradas mais adequadas para a sobrevivência da empresa.
Se já é difícil cada sujeito governar-se a si, imagina regular as ações de dezenas, centenas de pessoas? Deveria haver muita paciência, muito pulso, muita sabedoria, muita alteridade na pessoa que assume cargo de mando. Pena que na vida real raro encontrar pessoas talhadas. O que se tem é apadrinhamento, indicações... A sorte está lançada.
O chefe deve ter nos subordinados, nos subchefes, pessoas que o amparem, que traduzam confiança, em quem se possa contar. Caso contrário, o mal estar se estabelece.
Nos primeiros contatos com o chefe, impossível a bacharel adivinhar a grotesca instabilidade emocional dele. Meses de convivência o traço veio à tona. A irritabilidade do chefe obviamente danifica o grupo. Quem em são juízo gosta de ser aviltado? Vindo de alguém que se tem que ouvir calado, pior ainda. Há uma ou duas horas atrás o sujeito estava numa boa. De uma hora para outra, devido a um fato administrativo que o contraria, explode e humilha. Poucas pessoas se prestam ao papel de servos ou bons samaritanos.
O ser humano é engenhoso. Muitos convivem com esse chefe e vão levando a existência. Às vezes chutando o gato, descontando nos filhos e cônjuges. Ou esfolando os que estão abaixo dele na hierarquia da empresa. Muitos sofrem calados, esperando o momento de o chefe vacilar: uma brecha para ser aniquilado profissionalmente sem condições de revidar. É o prato de fria vingança.
Ela está na maioria que não lança mão da desforra nem vomita ódio nos subordinados nem familiares. O assédio moral da chefia através de humilhações quase diárias não diluiu a esperança de um dia o pesadelo acabar.
É bom que se diga que o assédio moral mais intenso sofrido tinha por parte do chefe fazer com que a bacharel desistisse do cargo. O que se passou é que o chefe perdeu a vontade de tê-la como assistente por questões variadas. É bom dizer que ela também se impõe como mulher madura que é. Nada submissa. Partilha da opinião que se lhe foi dado cargo de chefia merecia ter mais independência.
“Chega, hoje não...”, ela rebateu num certo dia a enxurrada de gritaria do chefe. Se fosse fria e calculista, teria seguido sugestões de amigos para mover processo de assédio moral. Mas descendente de italiano e com o sangue quente tupiniquim nas veias disse pro cara ir se ferrar.
O marido se alegrou porque sabia que era o sonho dela esse upgrade na carreira. Perderia no quesito companhia, mas ganharia com a alegria dela. Trabalhando em São Paulo, com clientes estabelecidos, ele não poderia acompanhá-la nesse momento. Conhecendo-se, sabia que deveria moderar as palavras para não chateá-la. Ficar sem mulher a semana toda seria doloroso. Principalmente no caso dele em que a esposa o completava.
Duas semanas depois, a bacharel estava no novo posto. Absorvia os detalhes da nova posição. Apesar de assistente, o cargo é de confiança e por tanto tem relativo poder e prestígio dentro da Agencia Nacional de Transportes. A chefia, por excelência é lugar tenso, dela dependendo ajustar recursos materiais e pessoais às metas consideradas mais adequadas para a sobrevivência da empresa.
Se já é difícil cada sujeito governar-se a si, imagina regular as ações de dezenas, centenas de pessoas? Deveria haver muita paciência, muito pulso, muita sabedoria, muita alteridade na pessoa que assume cargo de mando. Pena que na vida real raro encontrar pessoas talhadas. O que se tem é apadrinhamento, indicações... A sorte está lançada.
O chefe deve ter nos subordinados, nos subchefes, pessoas que o amparem, que traduzam confiança, em quem se possa contar. Caso contrário, o mal estar se estabelece.
Nos primeiros contatos com o chefe, impossível a bacharel adivinhar a grotesca instabilidade emocional dele. Meses de convivência o traço veio à tona. A irritabilidade do chefe obviamente danifica o grupo. Quem em são juízo gosta de ser aviltado? Vindo de alguém que se tem que ouvir calado, pior ainda. Há uma ou duas horas atrás o sujeito estava numa boa. De uma hora para outra, devido a um fato administrativo que o contraria, explode e humilha. Poucas pessoas se prestam ao papel de servos ou bons samaritanos.
O ser humano é engenhoso. Muitos convivem com esse chefe e vão levando a existência. Às vezes chutando o gato, descontando nos filhos e cônjuges. Ou esfolando os que estão abaixo dele na hierarquia da empresa. Muitos sofrem calados, esperando o momento de o chefe vacilar: uma brecha para ser aniquilado profissionalmente sem condições de revidar. É o prato de fria vingança.
Ela está na maioria que não lança mão da desforra nem vomita ódio nos subordinados nem familiares. O assédio moral da chefia através de humilhações quase diárias não diluiu a esperança de um dia o pesadelo acabar.
É bom que se diga que o assédio moral mais intenso sofrido tinha por parte do chefe fazer com que a bacharel desistisse do cargo. O que se passou é que o chefe perdeu a vontade de tê-la como assistente por questões variadas. É bom dizer que ela também se impõe como mulher madura que é. Nada submissa. Partilha da opinião que se lhe foi dado cargo de chefia merecia ter mais independência.
“Chega, hoje não...”, ela rebateu num certo dia a enxurrada de gritaria do chefe. Se fosse fria e calculista, teria seguido sugestões de amigos para mover processo de assédio moral. Mas descendente de italiano e com o sangue quente tupiniquim nas veias disse pro cara ir se ferrar.
LEMBROU-SE DO CONSELHO do pai para que se misturasse com jovens a fim de fixar a língua portuguesa. “Os jovens falam hoje o errado que amanhã será o correto. Se você se misturar com as pessoas mais maduras, terá a língua hoje encontrada nos livros que nas próximas gerações estará arcaica. Ao passo que com os jovens, universitários ou operários, vem a roupagem que a língua terá no futuro”, finaliza o emérito professor doutor em línguas latinas, que de quebra é seu pai. O rapaz entendeu.
Há menos de um mês no Brasil, a vida estava repleta de novidades. Era de se esperar. Afinal saiu da Alemanha por livre e espontânea vontade. Quis aperfeiçoar a língua portuguesa onde é falada. Por que no Brasil, se podia ir para Portugal? Além do mais, nas tevês germânicas o Rio e Sampa eram violentos? “Quis sair da Europa, mergulhar na América do Sul”, foi a resposta dada a colegas. Dizer que não sentiu medo de ser assaltado, alvo de sequestro relâmpago, seria mentira.
Na descida do Galeão, curtiu a vista. “Que loucura a aterrissagem. O piloto deve ter muito equilíbrio para não meter o avião no mar”, desabafou a uma senhora alemã companheira de viagem. Copacabana Palace Hotel? Claro que foi dar uma vista d’olhos. Nem podia deixar de ir. Era o hotel brasileiro mais famoso em seu país. Onde ficou hospedado? Na casa de um amigo, que é gerente de uma fábrica alemã em São Paulo, mas que não se incomoda em pegar a ponte aérea quase todos os dias para apreciar a cidade maravilhosa.
Sábado, os dois amigos resolveram sair. A palavra balada soou familiar. “Ser Isto balada?”, perguntou o recém-chegado. “Mais ou menos”, responde o anfitrião. À mesa de um pub – boate para a maioria, mas barzinho para o paulistano – havia um grupo de brasileiros. Três mulheres e um homem. Com os dois alemães que chegam: empate entre os sexos. O som é pagode. O alemão novato gostou da melodia, embora entendesse nada da música. Acostumado a rock ‘n’ roll. Nem se importou com o batuque, principalmente quando viu que o batuque provocava o gingado sensual.
Uma moça chamou a atenção. No início, procurou disfarçar o impacto que ela exerceu. Pele morena, o cabelo meio aloirado, braços e coxas fartos de carne, formas atraentes. Depois da quinta rodada, língua mais solta, ela falando pelos cotovelos, e dançava, e gingava. Ficou complicado para o moço camuflar a preferência. O que lhe atraí nela? Será por ela falar muita gíria e ele querer seguir obediente o conselho do velho pai de que era preciso aprender a língua dos jovens? Quem sabe. Estava tonto diante da moça atraente. Tontura tipo dar gargalhada diante de piada sem graça, para a qual mesmo o auditório do Silvio Santos, ainda que ele implorasse, se recusaria a rir.
“Eu gostar ver isto”, disse o rapaz para a moça que rebolava ao som de um pagode. “Alemão não é nada bobo”, respondeu ela, no que ele corou. Pois quando disse isto não se referia ao rebolado sensual da moça, mas do som. Num momento mais calmo, quando os dois trocavam falas brandas, ele se espantou quando ela disse que tinha trinta anos. “Parecer ter você 20 anum”. Ela gostou. Que mulher se zanga por parecer 10 anos a menos?
Do contato que teve com a musa carioca ficaria na cabeça a frase atravessando o samba. Mesmo o alemão que tinha nível avançado de português, ficou em dúvida.
“O que ela estava falando?”, o novato questionou.
“Atravessar o samba é dar rasteira, passar a perna. Por exemplo, no trabalho, um sujeito quer ser promovido, aí você corre, dá um jeito, e chega na frente dele”, o colega tentou clarear.
O que vale é que a frase atravessando o samba o acompanhará de volta a Alemanha, pois retorna para casa mês que vem.
Há menos de um mês no Brasil, a vida estava repleta de novidades. Era de se esperar. Afinal saiu da Alemanha por livre e espontânea vontade. Quis aperfeiçoar a língua portuguesa onde é falada. Por que no Brasil, se podia ir para Portugal? Além do mais, nas tevês germânicas o Rio e Sampa eram violentos? “Quis sair da Europa, mergulhar na América do Sul”, foi a resposta dada a colegas. Dizer que não sentiu medo de ser assaltado, alvo de sequestro relâmpago, seria mentira.
Na descida do Galeão, curtiu a vista. “Que loucura a aterrissagem. O piloto deve ter muito equilíbrio para não meter o avião no mar”, desabafou a uma senhora alemã companheira de viagem. Copacabana Palace Hotel? Claro que foi dar uma vista d’olhos. Nem podia deixar de ir. Era o hotel brasileiro mais famoso em seu país. Onde ficou hospedado? Na casa de um amigo, que é gerente de uma fábrica alemã em São Paulo, mas que não se incomoda em pegar a ponte aérea quase todos os dias para apreciar a cidade maravilhosa.
Sábado, os dois amigos resolveram sair. A palavra balada soou familiar. “Ser Isto balada?”, perguntou o recém-chegado. “Mais ou menos”, responde o anfitrião. À mesa de um pub – boate para a maioria, mas barzinho para o paulistano – havia um grupo de brasileiros. Três mulheres e um homem. Com os dois alemães que chegam: empate entre os sexos. O som é pagode. O alemão novato gostou da melodia, embora entendesse nada da música. Acostumado a rock ‘n’ roll. Nem se importou com o batuque, principalmente quando viu que o batuque provocava o gingado sensual.
Uma moça chamou a atenção. No início, procurou disfarçar o impacto que ela exerceu. Pele morena, o cabelo meio aloirado, braços e coxas fartos de carne, formas atraentes. Depois da quinta rodada, língua mais solta, ela falando pelos cotovelos, e dançava, e gingava. Ficou complicado para o moço camuflar a preferência. O que lhe atraí nela? Será por ela falar muita gíria e ele querer seguir obediente o conselho do velho pai de que era preciso aprender a língua dos jovens? Quem sabe. Estava tonto diante da moça atraente. Tontura tipo dar gargalhada diante de piada sem graça, para a qual mesmo o auditório do Silvio Santos, ainda que ele implorasse, se recusaria a rir.
“Eu gostar ver isto”, disse o rapaz para a moça que rebolava ao som de um pagode. “Alemão não é nada bobo”, respondeu ela, no que ele corou. Pois quando disse isto não se referia ao rebolado sensual da moça, mas do som. Num momento mais calmo, quando os dois trocavam falas brandas, ele se espantou quando ela disse que tinha trinta anos. “Parecer ter você 20 anum”. Ela gostou. Que mulher se zanga por parecer 10 anos a menos?
Do contato que teve com a musa carioca ficaria na cabeça a frase atravessando o samba. Mesmo o alemão que tinha nível avançado de português, ficou em dúvida.
“O que ela estava falando?”, o novato questionou.
“Atravessar o samba é dar rasteira, passar a perna. Por exemplo, no trabalho, um sujeito quer ser promovido, aí você corre, dá um jeito, e chega na frente dele”, o colega tentou clarear.
O que vale é que a frase atravessando o samba o acompanhará de volta a Alemanha, pois retorna para casa mês que vem.
O ÔNIBUS IA apinhado. No interior, pessoas apressadas, irrequietas, ansiosas para chegar a algum lugar. Ah, naturalmente havia os mais brandos, os que iam e vinham destituídos de ansiedade, quase autômatos. Na hora que o ônibus parou e ficou além do tempo previsto para os passageiros normais subirem no coletivo, um incômodo instaurou-se na maioria. O sinal sonoro mostra a engenhoca que permite a cadeira de rodas a ser içada da calçada até o interior do coletivo.
“Êta nós, vamos ficar parado um tempão”, resmungou um.
“Não dava para ter um veículo particular apenas para os deficientes?”, se queixava outro.
“Tô frito, agora que perco meu compromisso”, se inquietou o moço.
“Droga, tinha que ser agora”, outro rosnou.
Os monólogos acima foram todos suspirados silenciosamente. Embora o aborrecimento fosse notório nas caras contraídas, que cidadão verbalizaria tamanha insensibilidade? Fosse por causa do politicamente correto ou devido ao peso na consciência, a ira momentânea restringia-se ao foro íntimo.
A cadeira de rodas havia subido com sucesso no interior do ônibus, e este seguiu caminho para Jacareí. Os ânimos voltaram ao estágio anterior antes do empecilho. Um dos aborrecidos pela demora em esperar o cadeirante ser trazido para dentro do ônibus, teve a má sorte em estar de frente para seu algoz. Não, o algoz aqui não era o cadeirante, mas a própria consciência do aborrecido. A consciência o açoitou em função do estado lamentável que o cadeirante se encontrava.
Vinha acompanhado por duas mulheres. Uma provavelmente seria a mãe. A outra, sei lá, talvez a tia. Na carne que encobria os rostos dessas duas almas a humildade se estampava. Traziam miséria que faz muitos desviarem o olhar, fechando os olhos ou os fixando no chão ou no céu. A miséria que o povo brasileiro teima fingir que não existe para não ter que socorrer quem nela está. Os ossos, a pele esturricada, os olhos sem brilho, tudo traduzindo a terrível carga que a vida lhes impõe. O católico a vendo diz que Deus não costuma dar fardo maior que a pessoa possa aguentar. O socialista se enerva contra a classe abastarda. O niilista acha normal.
Na cadeira de rodas vinha um rapaz aparentando mais de trinta e cinco anos. Apesar de ser homem, portanto formato corporal diferente da mãe e tia. Não obstante, mirrado de carne igualmente. Na cadeira, quem o visse de costa acreditaria tratar-se de jovem de dezesseis anos, dos poucos desenvolvidos. Nada comparado aos rapagões que brincam e correm no Ensino Médio. Parte dos músculos não respondia, daí a baba escorrendo pelo canto da boca se tornava inevitável. O transeunte tinha que manter o sangue frio para a ânsia de vômito se afastar.
Falar que o remorso o abateu, seria o mínimo. Nesse lapso de tempo, nos poucos minutos que se deu ao trabalho de olhar aquele trio, um ‘sei lá o quê’ de desânimo o abateu. Se fosse outro, desviaria a atenção, e se perderia olhando os carros na rodovia Presidente Dutra até a entrada da cidade de Jacareí. Ele, não. A imagem o perseguia, ainda que enfiasse a cara na revista que estava lendo.
Quando finalmente desceu do coletivo e começou a caminhar no centro da cidade, tão solto e livre como um pássaro, a ideia do sofrimento das duas mulheres o vexou. E o que não dizer do rapaz sentenciado a uma cadeira de rodas. “Será que ele tem noção do sofrimento?”, perguntou-se por causa da dúvida que tem em saber se o deficiente mental percebe ou não sua deficiência. Se não perceber, ele acredita que o sofrimento inexiste no cadeirante.
“Êta nós, vamos ficar parado um tempão”, resmungou um.
“Não dava para ter um veículo particular apenas para os deficientes?”, se queixava outro.
“Tô frito, agora que perco meu compromisso”, se inquietou o moço.
“Droga, tinha que ser agora”, outro rosnou.
Os monólogos acima foram todos suspirados silenciosamente. Embora o aborrecimento fosse notório nas caras contraídas, que cidadão verbalizaria tamanha insensibilidade? Fosse por causa do politicamente correto ou devido ao peso na consciência, a ira momentânea restringia-se ao foro íntimo.
A cadeira de rodas havia subido com sucesso no interior do ônibus, e este seguiu caminho para Jacareí. Os ânimos voltaram ao estágio anterior antes do empecilho. Um dos aborrecidos pela demora em esperar o cadeirante ser trazido para dentro do ônibus, teve a má sorte em estar de frente para seu algoz. Não, o algoz aqui não era o cadeirante, mas a própria consciência do aborrecido. A consciência o açoitou em função do estado lamentável que o cadeirante se encontrava.
Vinha acompanhado por duas mulheres. Uma provavelmente seria a mãe. A outra, sei lá, talvez a tia. Na carne que encobria os rostos dessas duas almas a humildade se estampava. Traziam miséria que faz muitos desviarem o olhar, fechando os olhos ou os fixando no chão ou no céu. A miséria que o povo brasileiro teima fingir que não existe para não ter que socorrer quem nela está. Os ossos, a pele esturricada, os olhos sem brilho, tudo traduzindo a terrível carga que a vida lhes impõe. O católico a vendo diz que Deus não costuma dar fardo maior que a pessoa possa aguentar. O socialista se enerva contra a classe abastarda. O niilista acha normal.
Na cadeira de rodas vinha um rapaz aparentando mais de trinta e cinco anos. Apesar de ser homem, portanto formato corporal diferente da mãe e tia. Não obstante, mirrado de carne igualmente. Na cadeira, quem o visse de costa acreditaria tratar-se de jovem de dezesseis anos, dos poucos desenvolvidos. Nada comparado aos rapagões que brincam e correm no Ensino Médio. Parte dos músculos não respondia, daí a baba escorrendo pelo canto da boca se tornava inevitável. O transeunte tinha que manter o sangue frio para a ânsia de vômito se afastar.
Falar que o remorso o abateu, seria o mínimo. Nesse lapso de tempo, nos poucos minutos que se deu ao trabalho de olhar aquele trio, um ‘sei lá o quê’ de desânimo o abateu. Se fosse outro, desviaria a atenção, e se perderia olhando os carros na rodovia Presidente Dutra até a entrada da cidade de Jacareí. Ele, não. A imagem o perseguia, ainda que enfiasse a cara na revista que estava lendo.
Quando finalmente desceu do coletivo e começou a caminhar no centro da cidade, tão solto e livre como um pássaro, a ideia do sofrimento das duas mulheres o vexou. E o que não dizer do rapaz sentenciado a uma cadeira de rodas. “Será que ele tem noção do sofrimento?”, perguntou-se por causa da dúvida que tem em saber se o deficiente mental percebe ou não sua deficiência. Se não perceber, ele acredita que o sofrimento inexiste no cadeirante.
ATRAVESSOU A RUA. Bem em frente, a padaria. Estalo no raciocínio: por que não parar, entrar, tomar o café da manhã numa boa? Resposta simples: grana. Vontade tinha de ir à padaria. O que faltava era a prata à maneira espanhola. Encrespou-se: “quem ela pensa que é? A dona da empresa? Regular um cafezinho”. A duas quadras do portão da empresa, mais e mais ia se tornando irascível. “Vamos ver no que dá isto... Enquanto a chefe não me barrar, que me importa o que a velha de mal com a vida diz?”
Ruim era encontrar a senhora. Quantas vezes fazendo de tudo para aparentar gentileza, educação? Ela ali, feito múmia, um esqueleto. A Cruela dos 101 dálmatas se incomodaria de tamanha antipatia. Dá frio na espinha. Um espectro de pessoa que se gostava pouco e que passou para o além, sem que pudéssemos fazer as pazes. Quando ela estava na copa, dia de plantão, o café descia amargo, sem sabor. Quando ausente, de folga, ou no diabo que a carregasse, pensou o homem, o café ficava tão saboroso.
Todas as outras senhoras da copa, se não primavam pela gentileza, jamais tinham a brutalidade no olhar, a aspereza no resmungar, a maledicência poluindo o ar. Eram educadas. Dava prazer em prosear. Havia uma que era indicativo de dia feliz. Cumprimentava-o com sorriso sincero, desejava boa sorte no dia.
Ontem foi a gota d’água. A velha se aproximou e disse. “Olha, fiquei sabendo do rolo que deu... A diretora determinou que não se entrasse mais na copa para beber cafezinho o pessoal que não fosse do setor”, buscava mostrar indiferença. Transparecia satisfação em dar a notícia desejada. “Se fosse por mim, o que é que tem um cafezinho? Acho exagero. Proibir a nós que somos funcionários da empresa”. O rapaz querendo saber o rumo da prosa, perguntou: “É para eu não mais entrar na cozinha? Para eu não beber mais o cafezinho? Se a senhora tivesse me dito antes eu teria deixado de ir”. No que a sexagenária se adiantou: “Não você... Olhe lá. Eu acho o cúmulo proibir. Se quiser ir tomar seu cafezinho enquanto ela nada falar diretamente, tudo bem. Quem sabe ela nem te note. Talvez seja por causa dos visitantes”.
A narração nada a ver o incomodou. A senhora e a verborragia confusa. O rapaz trocou mais duas palavras. Despediu-se. Por dentro escondia o rancor. “Tudo para disfarçar o orgasmo que teve por me barrar a entrada na copa... Como pode existir pessoa assim? A cara de santa p. arrependida... e tropeçando nas desculpas.” Depois da explosão, do momento de raiva, de ter xingado em pensamento a velha uma dezena de vezes, ele caiu em si. “Eu tô fazendo pior que ela. Deve ser uma pessoa anulada na vida. Quantas vezes eu tomando cafezinho e ela xingando as tarefas, as colegas, os familiares... Detesta o ganha-pão que tem. Não vê a hora de se aposentar. Se agarra na mediocridade, por exemplo, na de prejudicar quem calhar de lhe desagradar.”
Quando tomava café e ela estava perto, buscava desviar o olhar. Quão indigesto é fazer a primeira refeição mirando pessoa amarga, que passa tamanha falta de esperança... Agora que a diretora do departamento determinara não tomar café na copa, para espanto até dos admiradores de Hitler, que felicidade ele sentia. Passaria na padaria. Tomaria café vendo TV, falando com o balconista, olhando as mães carregarem os filhos apressadas para escola. Um turbilhão de vida matinal. Estaria livre da cara feia. Pesaria no bolso. O que importa é que a alma ficaria mais leve, sadia, tranquila.
Passados dias nesse ritmo, um grupo da empresa, sob pressão do alto custo que é todo dia tomar café na padosa, criou espaço alternativo para tomar café. A chefia ratificou. Dentro da legalidade, a velha se acalmou. Mudou de foco. Procuraria outro alvo para despejar o mau humor que exalava dos poros.
Ruim era encontrar a senhora. Quantas vezes fazendo de tudo para aparentar gentileza, educação? Ela ali, feito múmia, um esqueleto. A Cruela dos 101 dálmatas se incomodaria de tamanha antipatia. Dá frio na espinha. Um espectro de pessoa que se gostava pouco e que passou para o além, sem que pudéssemos fazer as pazes. Quando ela estava na copa, dia de plantão, o café descia amargo, sem sabor. Quando ausente, de folga, ou no diabo que a carregasse, pensou o homem, o café ficava tão saboroso.
Todas as outras senhoras da copa, se não primavam pela gentileza, jamais tinham a brutalidade no olhar, a aspereza no resmungar, a maledicência poluindo o ar. Eram educadas. Dava prazer em prosear. Havia uma que era indicativo de dia feliz. Cumprimentava-o com sorriso sincero, desejava boa sorte no dia.
Ontem foi a gota d’água. A velha se aproximou e disse. “Olha, fiquei sabendo do rolo que deu... A diretora determinou que não se entrasse mais na copa para beber cafezinho o pessoal que não fosse do setor”, buscava mostrar indiferença. Transparecia satisfação em dar a notícia desejada. “Se fosse por mim, o que é que tem um cafezinho? Acho exagero. Proibir a nós que somos funcionários da empresa”. O rapaz querendo saber o rumo da prosa, perguntou: “É para eu não mais entrar na cozinha? Para eu não beber mais o cafezinho? Se a senhora tivesse me dito antes eu teria deixado de ir”. No que a sexagenária se adiantou: “Não você... Olhe lá. Eu acho o cúmulo proibir. Se quiser ir tomar seu cafezinho enquanto ela nada falar diretamente, tudo bem. Quem sabe ela nem te note. Talvez seja por causa dos visitantes”.
A narração nada a ver o incomodou. A senhora e a verborragia confusa. O rapaz trocou mais duas palavras. Despediu-se. Por dentro escondia o rancor. “Tudo para disfarçar o orgasmo que teve por me barrar a entrada na copa... Como pode existir pessoa assim? A cara de santa p. arrependida... e tropeçando nas desculpas.” Depois da explosão, do momento de raiva, de ter xingado em pensamento a velha uma dezena de vezes, ele caiu em si. “Eu tô fazendo pior que ela. Deve ser uma pessoa anulada na vida. Quantas vezes eu tomando cafezinho e ela xingando as tarefas, as colegas, os familiares... Detesta o ganha-pão que tem. Não vê a hora de se aposentar. Se agarra na mediocridade, por exemplo, na de prejudicar quem calhar de lhe desagradar.”
Quando tomava café e ela estava perto, buscava desviar o olhar. Quão indigesto é fazer a primeira refeição mirando pessoa amarga, que passa tamanha falta de esperança... Agora que a diretora do departamento determinara não tomar café na copa, para espanto até dos admiradores de Hitler, que felicidade ele sentia. Passaria na padaria. Tomaria café vendo TV, falando com o balconista, olhando as mães carregarem os filhos apressadas para escola. Um turbilhão de vida matinal. Estaria livre da cara feia. Pesaria no bolso. O que importa é que a alma ficaria mais leve, sadia, tranquila.
Passados dias nesse ritmo, um grupo da empresa, sob pressão do alto custo que é todo dia tomar café na padosa, criou espaço alternativo para tomar café. A chefia ratificou. Dentro da legalidade, a velha se acalmou. Mudou de foco. Procuraria outro alvo para despejar o mau humor que exalava dos poros.
À RUA DO IMPERADOR, a casinha amarela tem a porta aberta. O homem de bermuda caminha para o Gol cor prata 94, exibindo estado de conservação razoável para os 15 anos de uso. O homem carrega na mão a chave do veículo. Dará umas tantas idas e vindas do carro para o interior da casa até abastecer o golzinho com as mercadorias. Capas de celulares, das mais diversas marcas. Porta CD e DVD. Capas para computadores. Estojos de plástico ou sintético. Óculos de sol. Guarda chuvas. E dezenas de outras bugigangas necessárias ao dia a dia de parcela significativa da população.
Na sala de estar, a filha que o mirava. Estava amuada. Queria acompanhar o pai. No comum dos dias, não reclamava. Segue a rotina de ir para escola de manhã e, à tarde, frequentar as aulas de inglês no curso comunitário promovido pela prefeitura. Mas criança de seis anos é sempre criança: queria estar com os pais, impulso mais que natural.
“Não me olhe com esta cara. Você sabe que se não tivesse aula papai te levaria”, justificou-se o pai, de joelhos diante da menina.
“Mas eu queria ir com você. Todo dia eu vou para escola. Queria ir com você”, insistiu a menina que fugia da mãe para arrumar o cabelo.
Sabendo da direção da conversa da menina, ele brecou.
“Nada de faltar aula. Você quer sofrer como seu pai? Se eu tivesse estudado teria profissão melhor, não precisaria ser vendedor ambulante. Lembre-se que eu faço o que posso para que você tenha um futuro melhor”, disse emocionado o pai.
“Mas...”, insistiria.
“Nada de mais. Vamos”, findou o assunto.
Pegou a mochila da menina, beijou a esposa e conduziu-se com a filha para o carro, ficando a criança no banco de trás, local reservado, em que as bugigangas não atrapalhavam. No caminho para o trabalho, deixava a menina na escolinha.
“Fica bem, meu amor”, disse o pai, depositando um beijo na testa da filha ao entregá-la à professora no portão da escola.
A menina acenou e desfizera a tromba. Estava feliz porque o pai disse que estudar é como trabalhar e que quanto mais estivesse na escola mais satisfação traria ao casal.
O centro da cidade começava a fervilhar. Ônibus cuspindo pessoas, carros em filas gigantes, motoqueiros abusados. Enfim, a harmônica movimentação do dia útil que se inicia. O local da barraca dele era tranquilo. Basta erguer e começar a trabalhar. Após a prefeitura regularizar a área dos camelôs, o espaço ficou mais digno. Pagava taxa. Que importava a taxa? Quando na clandestinidade ele pagava taxa para os chefões sem ter a segurança do poder público. Naquele tempo era complicado. Quantas vezes ele teve que largar toda mercadoria para trás quando da chegada súbita da polícia?
Às dez horas da manhã a situação mudava de figura. O trabalho se intensifica. Atender muita gente o sobrecarrega de preocupação. Havia clientes apressados, desses que querem que o mundo pare para ser atendido. Havia os exigentes, que tinham que passar os olhos por todos os modelos do produto procurado para se decidir qual levar. Pior, tinha os larápios, que ao menor descuido enfiavam a mercadoria no bolso e sumiam sem pagar.
A camaradagem ajudava a lidar com a rotina. Se precisasse ir ao banheiro, lanchar, o colega ao lado ficava de olho na barraca. Fazia ele o mesmo quando solicitado. O único dia que a esposa ficava na barraca era na terça-feira, quando ele ia comprar mercadoria em São Paulo. Ou quando a indisposição física, como dor de cabeça, mal-estar, dor de dente ou estômago, o açoitava. Sorte que acontecia raramente.
Na sala de estar, a filha que o mirava. Estava amuada. Queria acompanhar o pai. No comum dos dias, não reclamava. Segue a rotina de ir para escola de manhã e, à tarde, frequentar as aulas de inglês no curso comunitário promovido pela prefeitura. Mas criança de seis anos é sempre criança: queria estar com os pais, impulso mais que natural.
“Não me olhe com esta cara. Você sabe que se não tivesse aula papai te levaria”, justificou-se o pai, de joelhos diante da menina.
“Mas eu queria ir com você. Todo dia eu vou para escola. Queria ir com você”, insistiu a menina que fugia da mãe para arrumar o cabelo.
Sabendo da direção da conversa da menina, ele brecou.
“Nada de faltar aula. Você quer sofrer como seu pai? Se eu tivesse estudado teria profissão melhor, não precisaria ser vendedor ambulante. Lembre-se que eu faço o que posso para que você tenha um futuro melhor”, disse emocionado o pai.
“Mas...”, insistiria.
“Nada de mais. Vamos”, findou o assunto.
Pegou a mochila da menina, beijou a esposa e conduziu-se com a filha para o carro, ficando a criança no banco de trás, local reservado, em que as bugigangas não atrapalhavam. No caminho para o trabalho, deixava a menina na escolinha.
“Fica bem, meu amor”, disse o pai, depositando um beijo na testa da filha ao entregá-la à professora no portão da escola.
A menina acenou e desfizera a tromba. Estava feliz porque o pai disse que estudar é como trabalhar e que quanto mais estivesse na escola mais satisfação traria ao casal.
O centro da cidade começava a fervilhar. Ônibus cuspindo pessoas, carros em filas gigantes, motoqueiros abusados. Enfim, a harmônica movimentação do dia útil que se inicia. O local da barraca dele era tranquilo. Basta erguer e começar a trabalhar. Após a prefeitura regularizar a área dos camelôs, o espaço ficou mais digno. Pagava taxa. Que importava a taxa? Quando na clandestinidade ele pagava taxa para os chefões sem ter a segurança do poder público. Naquele tempo era complicado. Quantas vezes ele teve que largar toda mercadoria para trás quando da chegada súbita da polícia?
Às dez horas da manhã a situação mudava de figura. O trabalho se intensifica. Atender muita gente o sobrecarrega de preocupação. Havia clientes apressados, desses que querem que o mundo pare para ser atendido. Havia os exigentes, que tinham que passar os olhos por todos os modelos do produto procurado para se decidir qual levar. Pior, tinha os larápios, que ao menor descuido enfiavam a mercadoria no bolso e sumiam sem pagar.
A camaradagem ajudava a lidar com a rotina. Se precisasse ir ao banheiro, lanchar, o colega ao lado ficava de olho na barraca. Fazia ele o mesmo quando solicitado. O único dia que a esposa ficava na barraca era na terça-feira, quando ele ia comprar mercadoria em São Paulo. Ou quando a indisposição física, como dor de cabeça, mal-estar, dor de dente ou estômago, o açoitava. Sorte que acontecia raramente.
QUE PRAZER IRRESISTÍVEL é dirigir. Pouco importa o estado de espírito em que estivesse. Ao entrar no veículo parecia abduzido por força mística. Irritado com o trabalho, com o relacionamento afetivo, com as contas que se acumulam? Só em pegar a chave do carro era como acionar o controle remoto do televisor e escapar do canal que causa perturbação. Quando de bem com a vida, queria mais e mais devotar-se ao veículo para compartilhar o momento sublime.
Primeira vez que experimentou a máquina turbinada tinha dezesseis anos. O colega da escola técnica emprestou o veículo. Todos abaixo dos dezoitos anos, logo o carro só podia ser de pais desavisados ou permissivos. Circulando por ruas, semáforos, avenidas. Gritante afronta à lei. “Valeu a aventura do sábado de tarde”, um cochichou na aula de física. Não raro, iam e vinham do cursinho, do shopping, montados num carro, limitando-se a zanzar pelo bairro. Qualquer situação imprevista com a polícia, eles estariam próximo de casa.
Aos dezoitos anos, as portas abrem-se. Com vontade e determinação, rapidamente obteve a CHN. A agilidade de dirigir sem carta ajudou. Não teve medo do volante, de estacionar, de fazer a baliza. Dificultou também, segundo o instrutor, “pois é mais difícil ensinar aquele que vem com vícios de direção do que a pessoa que nunca pegou no volante”. Ele, moço de tudo, entendia que o instrutor era um malandrão que ficou bravo por eu precisar apenas de cinco aulas enquanto os novatos ele mete a faca e arranca trinta aulas.
Um ano após pegar a carteira, envolvera-se num acidente feio. Vitimando duas pessoas. Trauma. Provou-se que ele tivera parcela de culpa no desfecho mortal. Aos serviços comunitários que fora obrigado a prestar em nada resultariam se ele não tivesse a consciência que atrás do volante necessita redobrar a cautela, ter responsabilidade. O prazer e a imprudência podem ceifar vidas. Aprendeu a lição. Amadureceu para entender o recado e evitar futuros problemas.
O limite de velocidade é complicado. Habituado à velocidade média de 110 km/h na estrada como a Rodovia Presidente Dutra. No interior da cidade que é o problema. Tem dificuldade em manter-se dentro dos 60 km/h. Motorista relativamente educado ele se comporta no trânsito. Mas basta o caminho livre para pisar mais. Quando vê, a velocidade está fora de controle.
As câmeras são ótimos recursos. A memória do motorista é falha. Principalmente quando tem que admitir barbeiragem, algo impensado ao ego. O ego do motorista aceita, no mínimo, ser classificado de ás do volante. A frase os outros estão errado e eu certo se não é falada pelo motorista ao menos é nutrida na cabeça. A câmera está aí para calmamente mostrar que o sábio, semideus motorista é capaz de cometer burradas, erros. “É uma fábrica de fazer dinheiro”, são críticas às câmeras e ao poder governamental que raramente o faltoso deixa de usar como desculpa na ponta da língua. Tomara que a lisura seja uma regra no gerenciamento das câmeras. Do contrário, a sociedade perderá uma senhora proteção diante dos motoristas que continuariam agindo levianamente no trânsito.
As multas iam se somando. Como pessoa que tudo acha que acabará em pizza, ia pagando e pronto. O sistema nacional de trânsito hoje não só aplica multa. Soma os pontos negativos na carteira. Atingindo 20, a carta é retirada. O motorista amargará um ano sem dirigir e terá de fazer curso de reciclagem. Há os criminosos, fora da lei, que quando perdem a carta, ainda continuam dirigindo, tornando-se peritos em fugir de batidas policiais. Para o cidadão médio, a ordem é cumprida, ainda que detestada.
Quer punição maior que ser privado de dirigir para quem ama o volante? Com a carteira tomada, restou ao rapaz ir como passageiro, enquanto a mulher guiava o veiculo.
Primeira vez que experimentou a máquina turbinada tinha dezesseis anos. O colega da escola técnica emprestou o veículo. Todos abaixo dos dezoitos anos, logo o carro só podia ser de pais desavisados ou permissivos. Circulando por ruas, semáforos, avenidas. Gritante afronta à lei. “Valeu a aventura do sábado de tarde”, um cochichou na aula de física. Não raro, iam e vinham do cursinho, do shopping, montados num carro, limitando-se a zanzar pelo bairro. Qualquer situação imprevista com a polícia, eles estariam próximo de casa.
Aos dezoitos anos, as portas abrem-se. Com vontade e determinação, rapidamente obteve a CHN. A agilidade de dirigir sem carta ajudou. Não teve medo do volante, de estacionar, de fazer a baliza. Dificultou também, segundo o instrutor, “pois é mais difícil ensinar aquele que vem com vícios de direção do que a pessoa que nunca pegou no volante”. Ele, moço de tudo, entendia que o instrutor era um malandrão que ficou bravo por eu precisar apenas de cinco aulas enquanto os novatos ele mete a faca e arranca trinta aulas.
Um ano após pegar a carteira, envolvera-se num acidente feio. Vitimando duas pessoas. Trauma. Provou-se que ele tivera parcela de culpa no desfecho mortal. Aos serviços comunitários que fora obrigado a prestar em nada resultariam se ele não tivesse a consciência que atrás do volante necessita redobrar a cautela, ter responsabilidade. O prazer e a imprudência podem ceifar vidas. Aprendeu a lição. Amadureceu para entender o recado e evitar futuros problemas.
O limite de velocidade é complicado. Habituado à velocidade média de 110 km/h na estrada como a Rodovia Presidente Dutra. No interior da cidade que é o problema. Tem dificuldade em manter-se dentro dos 60 km/h. Motorista relativamente educado ele se comporta no trânsito. Mas basta o caminho livre para pisar mais. Quando vê, a velocidade está fora de controle.
As câmeras são ótimos recursos. A memória do motorista é falha. Principalmente quando tem que admitir barbeiragem, algo impensado ao ego. O ego do motorista aceita, no mínimo, ser classificado de ás do volante. A frase os outros estão errado e eu certo se não é falada pelo motorista ao menos é nutrida na cabeça. A câmera está aí para calmamente mostrar que o sábio, semideus motorista é capaz de cometer burradas, erros. “É uma fábrica de fazer dinheiro”, são críticas às câmeras e ao poder governamental que raramente o faltoso deixa de usar como desculpa na ponta da língua. Tomara que a lisura seja uma regra no gerenciamento das câmeras. Do contrário, a sociedade perderá uma senhora proteção diante dos motoristas que continuariam agindo levianamente no trânsito.
As multas iam se somando. Como pessoa que tudo acha que acabará em pizza, ia pagando e pronto. O sistema nacional de trânsito hoje não só aplica multa. Soma os pontos negativos na carteira. Atingindo 20, a carta é retirada. O motorista amargará um ano sem dirigir e terá de fazer curso de reciclagem. Há os criminosos, fora da lei, que quando perdem a carta, ainda continuam dirigindo, tornando-se peritos em fugir de batidas policiais. Para o cidadão médio, a ordem é cumprida, ainda que detestada.
Quer punição maior que ser privado de dirigir para quem ama o volante? Com a carteira tomada, restou ao rapaz ir como passageiro, enquanto a mulher guiava o veiculo.
_ “OI”, MURMUROU ELA que carregava nas mãos balde cheio de roupa. Acabara de se levantar e aproveitou para pegar as roupas no cesto do banheiro para levar à máquina na área de serviço.
_ “Bom dia”, ele fechou a revista. Sinal que a leitura acabara.
Era o ritmo combinado por alto. Logo que ela se levantasse, a casa começava a funcionar. Arrumar ali, varrer aqui. A louça suja da noite anterior em cima da pia requeria ser lavada. Igualmente, o café pronto, as xícaras, o pão e a manteiga estavam dispostos à mesa à espera do desjejum.
Ao meio dia, bolariam o almoço. Uma corrida ao açougue ou ao mercadinho, e os ingredientes trazidos para cozinha. Como na hora do café, a do almoço constituía raro momento em que o casal sentava-se à mesa. Ao redor, as crianças e as agendas programadas os aprisionavam numa rotina fugidia. A adolescente ia para dança. A de dez anos, para o escoteiro. O caçula se satisfazia espalhando os brinquedos por toda casa. E marido e mulher perdidos no vendaval.
O sossego é peculiar à rotina de casais que comeram juntos uma década de sal. Semelhante ao tumor no jargão médico, o sossego pode ser benigno ou maligno. O benigno, apesar de entediante numa hora e causador de rusgas noutra, é saudável. Pode-se conviver com ele, e amar-se. O maligno é bem mais complicado. O amar-se nesse caso é oco, acontecendo quando a necessidade biológica grita.
Raramente há consenso sobre a origem ou permanência do sossego maligno. Seria por que o marido deixou de ser o homem ideal? Seria por que o marido gasta sem consultar? Seria por que a desanimada esposa não apóia projetos para melhora do poder aquisitivo? Seria por que a desconhecida no ônibus é mais atraente? Seria por que o marido da vizinha parece mais seguro no controle das despesas do lar? Seria por que a esposa estorva toda perspectiva de crescimento pessoal? Seria por que a beleza da mulher murcha a cada dia? Seria por que o marido já não é tão forte?
O sossego maligno no popular é chamado casal acomodado. O entusiasmo em ver o outro praticamente inexiste. Socialmente ou à hora de dormir, beijam-se como meros conhecidos. A relação esquenta por necessidade física, não sentimental.
Sábado à noite. As contas os impedem de sair? Ou será o ralo prazer em exibir-se ao lado do cônjuge? Na TV, um programa humorístico qualquer. No sofá, o casal. Parecem dois estranhos à sala de espera de um consultório, ansiosos para que o tempo passe e que sejam atendidos. É preciso puxar papo, afinal são casados. Por vezes um riso forçado é provocado diante do humor televisivo.
_ “Bom dia”, ele fechou a revista. Sinal que a leitura acabara.
Era o ritmo combinado por alto. Logo que ela se levantasse, a casa começava a funcionar. Arrumar ali, varrer aqui. A louça suja da noite anterior em cima da pia requeria ser lavada. Igualmente, o café pronto, as xícaras, o pão e a manteiga estavam dispostos à mesa à espera do desjejum.
Ao meio dia, bolariam o almoço. Uma corrida ao açougue ou ao mercadinho, e os ingredientes trazidos para cozinha. Como na hora do café, a do almoço constituía raro momento em que o casal sentava-se à mesa. Ao redor, as crianças e as agendas programadas os aprisionavam numa rotina fugidia. A adolescente ia para dança. A de dez anos, para o escoteiro. O caçula se satisfazia espalhando os brinquedos por toda casa. E marido e mulher perdidos no vendaval.
O sossego é peculiar à rotina de casais que comeram juntos uma década de sal. Semelhante ao tumor no jargão médico, o sossego pode ser benigno ou maligno. O benigno, apesar de entediante numa hora e causador de rusgas noutra, é saudável. Pode-se conviver com ele, e amar-se. O maligno é bem mais complicado. O amar-se nesse caso é oco, acontecendo quando a necessidade biológica grita.
Raramente há consenso sobre a origem ou permanência do sossego maligno. Seria por que o marido deixou de ser o homem ideal? Seria por que o marido gasta sem consultar? Seria por que a desanimada esposa não apóia projetos para melhora do poder aquisitivo? Seria por que a desconhecida no ônibus é mais atraente? Seria por que o marido da vizinha parece mais seguro no controle das despesas do lar? Seria por que a esposa estorva toda perspectiva de crescimento pessoal? Seria por que a beleza da mulher murcha a cada dia? Seria por que o marido já não é tão forte?
O sossego maligno no popular é chamado casal acomodado. O entusiasmo em ver o outro praticamente inexiste. Socialmente ou à hora de dormir, beijam-se como meros conhecidos. A relação esquenta por necessidade física, não sentimental.
Sábado à noite. As contas os impedem de sair? Ou será o ralo prazer em exibir-se ao lado do cônjuge? Na TV, um programa humorístico qualquer. No sofá, o casal. Parecem dois estranhos à sala de espera de um consultório, ansiosos para que o tempo passe e que sejam atendidos. É preciso puxar papo, afinal são casados. Por vezes um riso forçado é provocado diante do humor televisivo.
AMAR É BOM. Mesmo os mais carrancudos, pessimistas, que vivem remoendo sofrimento por causa de amor frustrado, têm certeza que fizeram todo o possível para acertar na relação malograda. Restou o sentimento de vítima. Pode ser que há pessoa que gosta de fazer o mal, matar, criar as piores condições para o semelhante, promover atrocidades mil. Contudo, dificilmente há pessoa que desgosta de amar. E para amar existem uns cem números de combinações que vão muito além do que esta ou aquela ditada pela sociedade.
Ele vem de uma relação chata. A namorada – ou namorida – estaria ao lado uns oito anos. Na sala da TV nos fins de semana, ela mandava, gritava, agia de modo abrutalhado. Apesar de cada qual viver na casa dos respectivos pais, os vícios e desestímulos de um casamento desgastado eram patentes. O rapaz estava farto da manipulada obrigação de se submeter ao ritmo da namorada. Ela ditava aonde ir, o que comer, o que vestir, o que falar, o que sorrir. A moça, líder religiosa, tinha certeza que iria salvar o mundo, ou, ao menos, contribuir para este propósito. Contava que o companheiro tivesse tempo e disposição para ajudar.
Vida social intensa. Como líder, acabou moldando o namorido para líder também. Fim de semana, feriado e festas de fim de ano, estava ele obrigado a se afundar em reuniões, em palestras na capital ou na própria cidade interiorana. Ele ajudava a organizar a juventude para seguir os ideais do grande Mestre. A vida parecia escorregar pelas mãos. Aprisionado no tenso emprego durante a semana. Por mais que estivesse habituado aos programas, às metas da empresa, o desgaste era inevitável. Pior era esperar sossego no fim de semana e receber justamente o contrário.
O casamento deles sairia este ano. Enrolaram demais, dizia boa parte dos parentes. Depois de oito longos anos, ele comprou o anel e marcaram o noivado. O jantar foi numa badalada pizzaria de Araraquara. Nos olhos e gestos do casal, a jura de amor reafirmada. Quem a desmentiria? Nem o malicioso, o sujeito vil que se incomoda com a alegria alheia.
“Quando será o casório?”, um dos convivas pergunta ao brindar aos noivos.
“Em 2010”, a noiva afirmou.
“Ela vai encontrar com o Mestre em 2010. Logo que voltar...”, a mãe do rapaz mostrava orgulho no adiamento do casamento por tão nobre determinação em antes visitar o Mestre que guiava a religião que a maioria ali partilha.
De repente, a mensagem no celular põe tudo a perder. Três meses após o noivado. Quem era a intrusa que roubava o namorado? Seria uma dentre as moças da própria organização? De maneira alguma. Vinha de fora. De outra cidade. “Paixão reprimida da adolescência”, ele alegou quando encostado na parede. As mensagens deixadas no celular eram comprometedoras. Seria a segunda vez que seria traída? Resolveu buscar a verdade. A paixão é descoberta. Ele não nega. Nem quer perdão. Desfaz-se o noivado. A notícia é uma bomba no seio da família.
A nova namorada nada tem a ver com a religião. É de fora. O rapaz terá o final de semana inteiro para se entregar. A nova namorada o mima, tanto zelo, ternura. Quantas vezes a palavra amorzinho escapa da boca dela? Inúmeras. Por vezes, deixa os circundantes com um misto de admiração e de irritação.
Cada momento presenciado diante do casal tem-se a impressão que se está assistindo aos clássicos Romeu e Julieta, Cinderela, e tantos exemplos apaixonados extremados. Fazem da entrega ao amor a grande razão de viver. Os ressabiados, os desgostosos, os mais insensíveis esperam o dia que a paixão murchará. Enquanto isso o casal passa o tempo ora balbuciando amorzinho, ora estalando beijocas.
Ele vem de uma relação chata. A namorada – ou namorida – estaria ao lado uns oito anos. Na sala da TV nos fins de semana, ela mandava, gritava, agia de modo abrutalhado. Apesar de cada qual viver na casa dos respectivos pais, os vícios e desestímulos de um casamento desgastado eram patentes. O rapaz estava farto da manipulada obrigação de se submeter ao ritmo da namorada. Ela ditava aonde ir, o que comer, o que vestir, o que falar, o que sorrir. A moça, líder religiosa, tinha certeza que iria salvar o mundo, ou, ao menos, contribuir para este propósito. Contava que o companheiro tivesse tempo e disposição para ajudar.
Vida social intensa. Como líder, acabou moldando o namorido para líder também. Fim de semana, feriado e festas de fim de ano, estava ele obrigado a se afundar em reuniões, em palestras na capital ou na própria cidade interiorana. Ele ajudava a organizar a juventude para seguir os ideais do grande Mestre. A vida parecia escorregar pelas mãos. Aprisionado no tenso emprego durante a semana. Por mais que estivesse habituado aos programas, às metas da empresa, o desgaste era inevitável. Pior era esperar sossego no fim de semana e receber justamente o contrário.
O casamento deles sairia este ano. Enrolaram demais, dizia boa parte dos parentes. Depois de oito longos anos, ele comprou o anel e marcaram o noivado. O jantar foi numa badalada pizzaria de Araraquara. Nos olhos e gestos do casal, a jura de amor reafirmada. Quem a desmentiria? Nem o malicioso, o sujeito vil que se incomoda com a alegria alheia.
“Quando será o casório?”, um dos convivas pergunta ao brindar aos noivos.
“Em 2010”, a noiva afirmou.
“Ela vai encontrar com o Mestre em 2010. Logo que voltar...”, a mãe do rapaz mostrava orgulho no adiamento do casamento por tão nobre determinação em antes visitar o Mestre que guiava a religião que a maioria ali partilha.
De repente, a mensagem no celular põe tudo a perder. Três meses após o noivado. Quem era a intrusa que roubava o namorado? Seria uma dentre as moças da própria organização? De maneira alguma. Vinha de fora. De outra cidade. “Paixão reprimida da adolescência”, ele alegou quando encostado na parede. As mensagens deixadas no celular eram comprometedoras. Seria a segunda vez que seria traída? Resolveu buscar a verdade. A paixão é descoberta. Ele não nega. Nem quer perdão. Desfaz-se o noivado. A notícia é uma bomba no seio da família.
A nova namorada nada tem a ver com a religião. É de fora. O rapaz terá o final de semana inteiro para se entregar. A nova namorada o mima, tanto zelo, ternura. Quantas vezes a palavra amorzinho escapa da boca dela? Inúmeras. Por vezes, deixa os circundantes com um misto de admiração e de irritação.
Cada momento presenciado diante do casal tem-se a impressão que se está assistindo aos clássicos Romeu e Julieta, Cinderela, e tantos exemplos apaixonados extremados. Fazem da entrega ao amor a grande razão de viver. Os ressabiados, os desgostosos, os mais insensíveis esperam o dia que a paixão murchará. Enquanto isso o casal passa o tempo ora balbuciando amorzinho, ora estalando beijocas.
ENQUANTO ASSINAVA NA folha de ponto, sorria para o administrativo. Apesar da saúde volta e meia falhando, o senhor é pessoa tranquila, educada. Quem o vê logo na chegada ao trabalho, sente vontade de seguir em frente, ganha combustível para enfrentar as agruras do dia de trabalho.
O que perturba a jovem não são os educados. O que a desconserta é a existência dos cancros, dos de mal com a vida. Padece diante da presença dos brutos, dos que se julgam superiores, das verdadeiras múmias do mau humor. Pessoas que basta a gente olhar para sentir um mal-estar no peito. Muitas são até belas por fora – pensou ela -, porém, há um veneno dentro de si que quando passam por nós faz o ar mais pesado, mais insuportável.
“Nascemos educados ou aprendemos a ser educados?”, perguntou a estudante de contabilidade do curso noturno para a professora de Recursos Humanos.
“Óbvio que nos educamos. A sociedade nos educa através de pais, mestres, escolas, grupos de referência”, ladeava a mestre.
“Trocando em miúdo, a educação é adquirida”, um colega procura sintetizar a fala da mestra e ganhar pontos com a menina.
“Mas por que existem pessoas mal educadas, mesmo dentre as que exibem diploma de mestrado ou doutorado?”, perguntou a aluna.
“Você está dizendo isso por quê?”, a mestra inquiriu. Pensou que fosse por causa da altercação entre professora e alunos semana passada sobre a baixa média que a turma tomou na prova.
“É que noto que há pessoas tão ríspidas, tão...” a menina se enrola no desabafo.
“Tão cavalas. Soltam coices pra tudo que é lado. Parecem odiar a própria vida e por isso não perdem o prazer de f. a vida alheia”, o rapaz não se conteve.
“É um pouco isso”, concorda a menina, “por que mesmo passando pela escola, aprendendo como a maioria, essas pessoas permanecem rudes?”, a universitária retomou.
“Será que a visão rasa da novela das oito, do BBB é o que vale: inatamente há uma galera do bem e uma galera do mal? Ou algo deu errado no processo de socialização?”, outro rapaz, mais intelectual, pontua. A professora se desarma. O jovem é seu preferido. A mestra nota que a pergunta não era pessoal e sim científica.
“Essa pergunta não sei responder. Foge de minha seara. Minha opinião beira o lugar-comum. Acredito que o sentimento ruim sentido quando se está perto de pessoas rudes é sinal que a dita pessoa tende a fazer mais mal do que bem ao grupo. Quando ouvimos uma pessoa rosnar que é necessário ser mais Pinochet que Piaget trata-se de dificuldade em lidar com suas próprias limitações, defeitos. Daí resultando completa ou parcial inabilidade em trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo nada tem de fácil. Requer muita habilidade. Não se trata de ser bonzinho ou malzinho. Tem que se ter habilidade técnica. Mas a melhor técnica estaria fadada ao fracasso se a pessoa se sente pouco à vontade diante do diferente.”
“Professora, qual é a solução para lidar com chefe mal educado?”, um lá no fundão berrou. Queria resposta mais prática, um pouco para espantar o sono em sala de aula.
“Descobrir o ponto fraco”, o rapaz da frente roubou a palavra da mestra, “só otário leva desaforo pra casa. Todo chefe precisa do cargo tanto quanto o subalterno. Se o grupo diz chega pra falta de educação, o chefe tende a pensar duas vezes. Ele quer continuar mandando, certo? Portanto cederá. Se ele f. com a vida de um, suporta-se; mas se enlouquece e quer f. com a vida de vários, o grupo acaba com ele. Pinochet fugiu do Chile que nem um covarde e foi se esconder em outro país.”
“É quase isso. Vamos mudar de assunto”, a professora retomou o tema da avaliação de desempenho profissional.
O que perturba a jovem não são os educados. O que a desconserta é a existência dos cancros, dos de mal com a vida. Padece diante da presença dos brutos, dos que se julgam superiores, das verdadeiras múmias do mau humor. Pessoas que basta a gente olhar para sentir um mal-estar no peito. Muitas são até belas por fora – pensou ela -, porém, há um veneno dentro de si que quando passam por nós faz o ar mais pesado, mais insuportável.
“Nascemos educados ou aprendemos a ser educados?”, perguntou a estudante de contabilidade do curso noturno para a professora de Recursos Humanos.
“Óbvio que nos educamos. A sociedade nos educa através de pais, mestres, escolas, grupos de referência”, ladeava a mestre.
“Trocando em miúdo, a educação é adquirida”, um colega procura sintetizar a fala da mestra e ganhar pontos com a menina.
“Mas por que existem pessoas mal educadas, mesmo dentre as que exibem diploma de mestrado ou doutorado?”, perguntou a aluna.
“Você está dizendo isso por quê?”, a mestra inquiriu. Pensou que fosse por causa da altercação entre professora e alunos semana passada sobre a baixa média que a turma tomou na prova.
“É que noto que há pessoas tão ríspidas, tão...” a menina se enrola no desabafo.
“Tão cavalas. Soltam coices pra tudo que é lado. Parecem odiar a própria vida e por isso não perdem o prazer de f. a vida alheia”, o rapaz não se conteve.
“É um pouco isso”, concorda a menina, “por que mesmo passando pela escola, aprendendo como a maioria, essas pessoas permanecem rudes?”, a universitária retomou.
“Será que a visão rasa da novela das oito, do BBB é o que vale: inatamente há uma galera do bem e uma galera do mal? Ou algo deu errado no processo de socialização?”, outro rapaz, mais intelectual, pontua. A professora se desarma. O jovem é seu preferido. A mestra nota que a pergunta não era pessoal e sim científica.
“Essa pergunta não sei responder. Foge de minha seara. Minha opinião beira o lugar-comum. Acredito que o sentimento ruim sentido quando se está perto de pessoas rudes é sinal que a dita pessoa tende a fazer mais mal do que bem ao grupo. Quando ouvimos uma pessoa rosnar que é necessário ser mais Pinochet que Piaget trata-se de dificuldade em lidar com suas próprias limitações, defeitos. Daí resultando completa ou parcial inabilidade em trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo nada tem de fácil. Requer muita habilidade. Não se trata de ser bonzinho ou malzinho. Tem que se ter habilidade técnica. Mas a melhor técnica estaria fadada ao fracasso se a pessoa se sente pouco à vontade diante do diferente.”
“Professora, qual é a solução para lidar com chefe mal educado?”, um lá no fundão berrou. Queria resposta mais prática, um pouco para espantar o sono em sala de aula.
“Descobrir o ponto fraco”, o rapaz da frente roubou a palavra da mestra, “só otário leva desaforo pra casa. Todo chefe precisa do cargo tanto quanto o subalterno. Se o grupo diz chega pra falta de educação, o chefe tende a pensar duas vezes. Ele quer continuar mandando, certo? Portanto cederá. Se ele f. com a vida de um, suporta-se; mas se enlouquece e quer f. com a vida de vários, o grupo acaba com ele. Pinochet fugiu do Chile que nem um covarde e foi se esconder em outro país.”
“É quase isso. Vamos mudar de assunto”, a professora retomou o tema da avaliação de desempenho profissional.